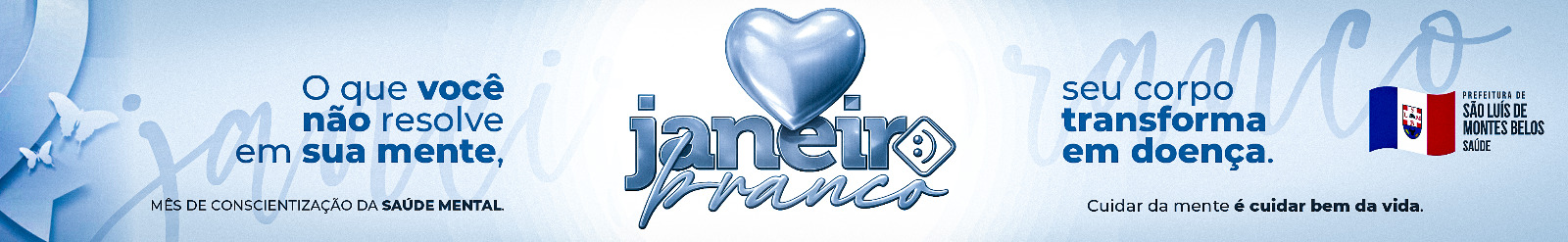Paulo Afonso lembra garimpeiros, raizeiros, benzedeiras, parteiras e farmácias. Mais textos do livro AMORINÓPOLIS NA METADE DO SÉCULO PASSADO.
Vamos à leitura:
Garimpeiros
A região de Campo Limpo, principalmente o vale da Santa Marta, foi grande produtora de diamantes. A entrada dos baianos em nossa região deveu-se muito à disputa para adquirir as pedras na fonte, onde o preço era bem mais compensador e havia sempre a chance de ludibriar o garimpeiro. Era um comércio como qualquer outro, onde o produtor tentava vender a gema por preço melhor e, do outro lado, o capangueiro tentando convencê-lo de que a pedra tinha muitos defeitos para lapidação e que o preço deveria se bem menor.
Os baianos vieram para a região Oeste de Goiás no começo do século passado, atraídos pelos diamantes dos vales dos rios Claro, Pilões e, sobretudo, Araguaia. O vale do rio Itapecuru, na região de Lençóis, Mucugê e Andaraí, nas bordas da Chapada Diamantina, na Bahia, sempre foi um grande produtor de diamantes e abastecedor da corte portuguesa. Antes da metade do século passado, com a notícia dos garimpos de Goiás, muita gente daquela região veio tentar a vida por aqui e trouxe o hábito e a experiência de negociar com diamantes. Israel de Amorim foi um deles. Waldemar Barbosa, dono da Casa Barbosa, foi outro. Zenildo Lessa e Gildásio Coutinho começaram a vida como compradores de diamantes, para o Israel de Amorim. O Manezím da dona Oráides também comprava suas pedrinhas; O seu Tunim Barbosa, da mesma forma. Todos eram baianos, oriundos da região de Lençóis.
O vale da Santa Marta, próximo a Campo Limpo, era o mais procurado pelos garimpeiros ou faiscadores de diamantes, como eram conhecidos os trabalhadores informais desse ofício. Quase sempre eram sonhadores, que tinham certeza de que um dia iriam bamburrar e que não largavam essa vida por nada. Quando a coisa apertava muito e não entrava dinheiro nenhum, sujeitavam-se a trabalhar como meia-praça, onde alguém mais abastado fornecia os gêneros alimentícios e as ferramentas, para depois dividirem o produto final da atividade. Se fosse zero, era zero para os dois e o fornecedor arcava com o prejuízo.
Uma das marcas registradas dos garimpeiros era o uso das calças velhas cortadas nas pernas, para facilitar a atividade, que era desenvolvida dentro d’água ou nos barrancos dos rios. Não se conhecia o nome bermuda, em nossa
região. Cortou a perna da calça para aproveitar, era logo apelidado de garimpeiro. Eu mesmo recebi esse apelido várias vezes, principalmente quando íamos buscar areia para fazer a quadra de esportes. O nome bermuda é coisa bem mais recente e só lá pelos anos setenta é que virou moda mesmo. Antes, era calça de garimpeiro.
Sei que o João-Pau-Quebrou, avô da Maria Helena, era um garimpeiro inveterado, trabalhou muito, pegou algumas pedras até razoáveis, levou vários tombos dos capangueiros e terminou a vida sem conseguir guardar quase nada de seu trabalho. Meu sogro, seu Nenzico, foi outro, daqueles doentes mesmo pela esperança de bamburrar. Vez por outra sumia no mundo e passava um mês inteiro tentando a sorte. Até o fim da vida manteve um meia-praça trabalhando para ele e, vez por outra, aparecia um xibiu para manter as chamas da esperança bem acesas. Tenho guardado comigo o último jogo de peneiras que ele usou no garimpo.
Na primeira metade do século passado, houve uma insegurança generalizada na região com a passagem dos Revoltosos, que era um grupo paramilitar que ficou conhecido depois como a Coluna Prestes. Mas, para nosso povo, eram Os Revoltosos, que lutavam contra o governo e, por onde passavam, se julgavam no direito de confiscar tudo que a população possuía, para vestir e alimentar seus soldados. Roubavam, principalmente, gado para abate. Há histórias de humilhação das famílias de fazendeiros do sertão, estupro e toda espécie de barbárie comum a tropas isoladas e famintas por tudo, inclusive por sexo.
Pois bem. A certa altura chegou a notícia de que os revoltosos iriam passar pela região de Campo Limpo, principalmente pelo vale da Santa Marta, que era o mais povoado. Foi um desespero geral: gente escondendo gado, galinhas e tudo de valor que pudessem evitar a pilhagem. E lá perto da fazenda do seu João Abílio havia um velho que, além de fazendeiro, era garimpeiro também e, dizem, tinha um vidro pra cima do meio com diamantes das aluviões da Santa Marta, esperando a oportunidade para vendê-los melhor. O velho estava doente e não ia conseguir fugir. Então, num fim de tarde ele pegou o vidro com as pedras preciosas, subiu sozinho um morro que havia na frente de sua casa e escondeu o tesouro para que os revoltosos não o roubassem.
Poucos dias depois o velho garimpeiro foi piorando da doença e, impossibilitado de ir buscar recursos para tratar da saúde, associando-se a isto a tensão e o medo causados pela notícia da possível chegada dos revoltosos, veio a falecer. E o tesouro está lá, perdido entre as pedras. O João Doutor sabe direitinho o local da casa do velho. Acho que o Abílio sabe também. Estou doido para encontra-me com eles, para combinar uma caçada ao tesouro. É a minha grande chance de “tirar o pé do atoleiro”.
O SETOR DE SAÚDE
Farmácias
Existiam umas cinco ou seis farmácias no início de Campo Limpo. Eram, quase todas, farmacinhas que vendiam algumas dezenas de medicamentos. Havia a do seu Pedro Pomar, a do seu João Pessoa, a do tio Miguel e, me parece, a do Paulo dentista também. Quando meu pai chegou, elas tiveram que fechar as portas, porque não tinham licença para funcionar. Restaram, então, a farmácia do seu Vergílio e a farmácia de meu Pai. A do seu Vergílio era para os lados da saída de Rio Verde, na baixadinha da avenida Iporá ou Macabeus hoje, dois quarteirões depois da praça. Lá trabalhavam o Walter e a Gersy, filhos dos proprietários. A farmácia de meu pai localizava-se logo depois da praça, também em direção à saída para Rio Verde. Sobre ela vou falar com mais detalhe nos últimos capítulos deste livro.
Dentistas
Havia vários na cidade. Os principais eram seu Paulo Alves de Alcântara, mais conhecido como Paulo Dentista, o tio Miguel, marido de tia Marizinha, e o seu Tunico Dentista, de nome completo Antonio Felisbino de Menezes, que estava até há pouco tempo na ativa em Iporá. Era casado com dona Tita e tinha quatro filhos de nomes Elsa – casada com o Abílio Paes de Freitas –, Jubé, Elzita e Elzenita. Econtrei-me com o Jubé há pouco tempo. Suas filhas são a cara de suas irmãs mais novas. Seu Tunico tinha sido discípulo do seu Tuta, um dentista famoso de Iporá. Trabalhava com um equipamento tocado a pedal, para preparar as cáries para serem obturadas, porque não havia energia elétrica naquela época. Ele faleceu há poucos anos atrás. Mais tarde apareceu o Sebastião Barros, irmão do Artur Barros, de Iporá, outro dentista muito competente, que tinha o gabinete em um cômodo do Hotel Junqueira.
Raizeiros, benzedeiras e parteiras
Os doutores práticos sempre aparecem no sertão. De certa forma, os farmacêuticos práticos não deixavam de ser curandeiros também. Os nossos doutores práticos mais famosos eram o Joaquim Vó e o seu Pedro Nascimento. Só não tinham diplomas, mas havia muita gente que punha a maior fé em seus receituários. Meu pai dava a maior atenção ao Joaquim Vó e quase todo dia chegava lá na farmácia uma receitinha dele para ser aviada, principalmente para as pessoas da Santa Marta, que era seu reduto. Não me esqueço dele que, quando ficava nervoso ou tenso, danava a tremer o queixo, como se tivesse um motor ligado ali. No seu casamento, lá pelos idos de cinquenta e seis, ele se preparava para o ato lá na casa da tia Marizinha. Eu era molecote de cinco para seis anos e, quando o vi tremendo o queixo de nervoso, fiquei encabulado por muito tempo. Era uma pessoa finíssima. Faleceu há alguns anos atrás. Já o seu Pedro Nascimento, marido da dona Maximina e pai do Zamir e da Lídia, era especialista em remédios homeopáticos e em algumas raizadas. Era uma figura muito simpática, já bem velho quando o conheci em Campo Limpo. Não sei de onde veio e nem como conseguiu essa cultura sobre homeopatia, mas era um sábio. Deve ter falecido há muitos anos atrás. Que Deus mantenha sua alma ao lado daqueles que só fizeram o bem aqui na terra.
Fora essas pessoas sabiamente “diplomadas”, havia os remédios caseiros, que eram de domínio público e muito usados naquela época. Acho que até hoje muita gente os usa ainda. A losna, a carqueja e o boldo tinham funções hepáticas. Se o estômago ficasse ‘embrulhado’ ou se a gente ficasse ‘arrotando choco’, nada melhor que macerar uma dessas ervas, deixar de molho na água e ir tomando várias vezes ao dia. Acho que até hoje não tem remédio industrializado que substitua essas infusões. Eram santos remédios. Já para resfriado, um chazinho de hortelã, poejo, alfavaca ou mesmo erva cidreira, tomados com um melhoral, tinha um valor curativo muito grande, principalmente para organismos não viciados em medicamentos alopáticos, como era o da maioria das pessoas da metade do século passado. Para diarreia, usava-se chá de marcela, chá de erva de passarinho ou chá de broto de goiaba. Para insônia, era chá de erva cidreira ou chá de flor de maracujá. Como vermífugo nada igual a mastruz ou erva de santa maria, ou, então, uma paçoca de semente de abóbora baiana com açúcar mascavo, ingeridos em jejum. Depois de uma hora, vinha um purgante de óleo de rícino, para jogar a ‘maliça’ pra fora. Agora, para problemas de menstruação, o mais usado era uma infusão de arruda. Essa mesma infusão ou o sumo da arruda servia, também, para lavar o olho, quando estava irritado ou com algum problema. Para os rins, os melhores diuréticos eram chás de vassourinha santo antônio, ou de folha de abacate, ou de quebra-pedra, ou de chapéu de couro ou, ainda, de carrapicho. Como adstringente, nada melhor que sangra-d’água. Calmante, o bom mesmo era um chazinho de erva cidreira ou de melissa. Para expectorar, nada igual a gengibre. O açafrão era utilizado como anti-inflamatório, tanto em forma de ingestão, como amarrado ao pescoço. Nesse último caso, as pessoas com sarampo, por exemplo, em que apareciam inúmeras feridinhas pelo corpo, untavam um cordão com pó de açafrão ou cortavam umas rodelas do tubérculo, enfiavam num cordão e penduravam no pescoço.
Além desses remedinhos caseiros, de domínio público, havia ainda as famosas garrafadas, que curavam doenças mais complicadas. A mais famosa de todas as fazedeiras de garrafadas era a Dona Filomena, avó do Vardirim Gonçalves que hoje é biomédico em Aripuanã, no norte de Mato Grosso. Preparava, dentre várias, até uma que tornava férteis as mulheres que não conseguiam engravidar. Danada de sabida a dona Filomena. Morava lá na saída para Rio Verde, bem no alto, em uma rua do lado esquerdo de quem subia a Avenida Iporá. Era irmã da dona Etelvina, que morava numa casa ao lado da dela. Eram duas casas iguais.
E as benzedeiras? Tem gente que não acredita nisso, infelizmente, mas já vi inúmeros casos de sucesso, principalmente em crianças. Havia problemas de quebranto, de ventre-virado, de mal-olhado e mais um montão de coisas. Confesso que não sei bem o que significa cada um desses problemas, mas só sei que vi, por várias vezes, criancinhas intranquilas, chorando sem parar, ficarem totalmente curadas após o ritual da benzeção. As pessoas que benziam utilizavam um raminho de planta, que ficava murchinho, quando terminada a sessão. E, muitas vezes, essa pessoa que benzia disparava numa abrição de boca, que era impressionante. Dona Maria do Tiófe era craque em benzer. Dona Filomena nem se fala. A dona Maria Papuda, mãe do João Baixinho e a Baiana, mãe da Tonha, da Nega e do Vino da Baiana, eram muito procuradas também. Mais recentemente, tenho conhecimento da Ilda, irmã da Irene e mãe da Analícia, que benzeu minha filha várias vezes. Deve ter havido várias outras, de que não tomei conhecimento ou não me lembro mais. Ah! Tinha outro que era fabuloso. Era o Joaquim Borges, que benzia as propriedades rurais contra cobras. Dizem que afastava todos os animais peçonhentos ou os tornava inofensivos. E sabe quanto esse pessoal cobrava? Nada… Agora, pergunte a um médico quanto custa para ele olhar pra um doente seu? Só para olhar…
E as parteiras? Imagine aquela região toda sem nenhum médico, a não ser em Iporá e Rio Verde e, ainda mais, sem estradas ou carros, para atender uma emergência. Como em todos os lugares do Brasil e do mundo, em seus primórdios, também em Campo Limpo as parteiras é quem socorriam as mulheres na hora do nascimento de seus filhos. A higiene, para esses casos, era compatível com os costumes da época e nada que assustasse ninguém. Tem histórias famosas de curar umbigo com fumo mascado ou com alguma erva própria para tal, mas se isso acontecia, era a coisa mais normal do mundo, porque era o costume deles. Cada região do município tinha a sua própria parteira. No alto da Santa Marta deveria haver uma, na Jacuba outra, no Caiapó outra, porque não era possível correr para a cidade na hora que se iniciavam as contrações. E na cidade, o máximo que iria encontrar, era outra parteira. Em Campo Limpo lembro-me de algumas: dona Maria do Tiófe, dona Maria Baiana, dona Maria Mineira e dona Juvercina do seu Zequinha Preto. Devem ter aparado inúmeras crianças na metade do século passado. Em Iporá havia outra famosa, talvez a mais famosa de todas as que conheci, que foi a dona Perciliana, sogra do Antinábio e irmã do seu Realino Lara. Essa era disputada por muitas mulheres e nunca colocava dificuldades para ir atender alguém, a qualquer hora do dia ou da noite.
Sobre as parteiras, trocando e-mails com a Maria Helena da dona Maria Luiza, para ver se ela me ajudava a lembrar de mais coisas do antigamente lá da nossa terra, ela me contou o seguinte: “Eu sempre tive em mente que, se um dia escrevesse sobre nossa cidade, também eu falaria sobre os tipos diferentes. Também sempre tive vontade de contemplar as parteiras de lá que, à época, desempenharam função pra lá de importante. E neste viés eu contaria, ainda, um belo ritual que presenciei algumas vezes e que povoou toda minha infância: naquela época, sempre que uma mulher descansava (maneira como chamavam o ato de dar à luz), era costume as vizinhas lhe fazerem uma visita. E na prática ingênua da época (pelo menos entre as mulheres bem simples de nossa vizinhança) as mães levavam a carrada de filhos junto. Que situação! Eu achava meio sacal, por conta das conversas cochichadas e bem codificadas. Mas gostava do cheirinho bom de nenê novo. Gostava também – muito – de um ritual lindo e mágico que normalmente acontecia durante a visita: a hora de a descansada tomar a aguardente queimada com arruda. Nunca soube bem por que, mas era lindo de se ver! O fogo se encompridava em longas e belas labaredas azuis que davam um tom surreal ao quarto e um cheiro exótico incensava todo o ambiente. Aquilo me fascinava. Pra mim, a cada vez que o ritual se repetia, ele tinha sabor mágico de primeira vez.”