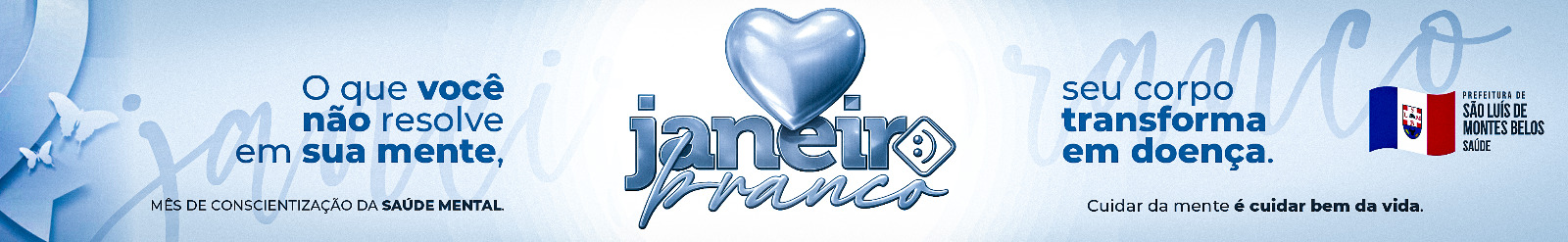EMOCIONANTE HISTÓRIA!!! O professor Moizeis relata no livro O CONTO QUE O POVO DIZ E EU CONTO POR MENOS DE UM CONTO a história nesta região, muito tempo atrás, de um escravo que roubou a filha de um branco. Ela tomava banho no Rio Claro… O escravo fugido chegou e a levou, a força. Leia aqui. EMOCIONAMTE!!!
O QUILOMBOLA
E O RAPTO DA FILHA DO CAPITÃO-MOR
Quando se fala de quilombos – comunidades isoladas nos sertões formadas por escravos fugidos dos engenhos de açúcares, das minas de ouro de Cuiabá, Minas Gerais, Goiás e das fazendas dos barões do café – nem se imagina que tenha existido algum no cafundó do oeste goiano. Mas, conta o povo, que aumenta, mas, não inventa, que isso aconteceu.
Por volta de 1748, os irmãos Joaquim e Felisberto Caldeira Brant iniciaram a exploração de diamantes no Rio Claro. Empresa tocada à custa de duzentos escravos, além de homens livres. Na margem direita do rio fundaram o Arraial de Pilões, que anos mais tarde veio a ser Distrito de Rio Claro e, já no século 20, ficou conhecido como o Comércio Velho dos causos e lendas contados pelos antigos. Finda a temporada de três anos de mineração os Brant foram para Minas Geras, deixando para trás parte de seus escravos que, escapando aos olhos vigilantes dos feitores, fugiram para o sertãozão, além das suspeitas de ocultação de diamantes que deram origem às lendas sobre enterros fabulosos, que ainda alimentam a imaginação de muita gente que sonha encontrar algum deles.
Após a partida dos Brant, a Coroa portuguesa continuou mantendo a Ordenança dos Dragões, formada por um Capitão-Mor, cinco Cabos e vinte e cinco soldados, já locada no Arraial de Pilões, responsável pela vigilância do Distrito das Terras Diamantinas dos Goyazes, que abrangia as bacias dos rios Claro, Pilões e Caiapó. Pois não era incomum surpreender faiscadores aventureiros na “zona proibida”. Vindos lá do sul e sei lá mais de onde, por trilhas secretas, se embrenhavam pelas matas para garimpar, clandestinamente, diamantes e ouro de aluvião. Às vezes até usando mão-de-obra de índios escravizados. Quando já havia faturado o que valia a pena, vazavam com seus preciosos achados, seguindo o curso do Rio dos Bois, ou, atravessando os chapadões do sudoeste goiano, embicavam nos rios do Pantanal, aparecendo, tempo depois, lá pela Argentina afora, deslizando pelas águas do Rio da Prata, felizes por terem driblado o monarca português D. João V, na sonegação do detestado imposto do “quinto dos infernos”.
Os soldados faziam as rondas visitando mensalmente os locais onde estavam demarcadas as jazidas de diamantes e os ribeirões e córregos auríferos e diamantinos da região. Saiam do Arraial de Pilões, margeando pela esquerda o Rio Claro, desciam até a jazida do poço do Pacu (atual Jaupaci). Viravam para o sul pegando o lombo da Serra da Sentinela, onde, no pico mais lato, se acampavam para pernoitar e, lá do alto, observar se havia garimpeiros na região, por meio da fumaça que se erguia das fornalhas das barracas dos intrusos, quando preparavam o rango. Procedimento que faziam ao amanhecer e nas noites de luar. Para pegar os mais espertos, observavam também durante as noites escuras, pois o horizonte límpido permitia identificar as colunas fumaça que subiam preguiçosas na penumbra da claridade das estrelas. Às vezes, viam fumaça lá para as bandas da Serra do Impertenente, mas, local fora do trajeto da ronda, e poderia também ser de aldeias de bugres, dos quais queriam distância.
Uma vez identificado o local onde estavam os contraventores das ordenanças reais, agiam imediatamente. Bússola posicionada, direção marcada e lá iam os guardas “surpreender” os indesejados surripiadores da Corroa. Mas, soldados do reino lusitano, que não eram bobos para defender riqueza de Sua Majestade no fim do mundo, ao custo da própria vida, matutando ainda a certa distância dos garimpeiros – bicho doido que anda armado até os dentes – apontavam os arcabuzes e mosquetes pro alto e: pôu, pôu, pôu… Ao mesmo tempo em que berravam dentro da mata: “Dragões! Dragões! Dragões…”! Chegavam, esvaziavam as panelas cheias de carne de caças ou de peixe, confiscavam o que era de interesse: algumas armas e ferramentas deixadas para trás e escondiam-nas em algum lugar bem balizado, para reavê-las depois. Assim, seguiam em frente, acampando no morro Calvo (do Macaco), nas serras da Bela Vista (Morro Alto) e da Gurita (próxima a Ivolândia), descambavam para Rio São Domingo, indo até ao Ribeirão Fartura, de onde desciam margeando o Rio Pilões. Quando chegavam ao vau da estrada de Vila Boa, caminhavam mais duas léguas e estavam outra vez no Arraial de Pilões, prestando relatório ao Capitão-mor. Logo, outro contingente de soldados, já de prontidão, partia para uma nova ronda dragônica.
Enquanto os dragões cumpriam a ingrata tarefa de trilhar picadas vazando matas, cerrados, brocotós de serras e furnas, em Pilões, com cerca de cinquenta residências, incluindo casas e ranchos, a vida corria no ritmo de sua modorrenta rotina. Os moradores que, talvez, nem constassem duas centenas, na maioria pequenos agricultores e criadores de gado, davam o duro em seus sítios ao redor do lugarejo colonial, produzindo para a subsistência e o suprimento das autoridades militares, eclesiásticas e os comerciantes. As vendas eram abastecidas com mercadorias vindas de Salvador, Parati, São Paulo e Minas Gerais, em lombos de burros e mulas dos comboios de tropeiros que iam para a Vila de Cuiabá. Meses depois eles passavam de volta, pernoitando no largo da igreja e recebendo novos pedidos de mercadorias que seriam entregues só no próximo período da seca, quando os vaus dos rios e ribeirões se tornavam transponíveis. O padre celebrava as missas na Capela do Senhor Bom Jesus. Sempre presente em seu posto no Quartel encravado próximo à curva do rio, na barra o Córrego Lava-pé, o Capitão cuidava da segurança do Arraial, que vivia sob constante ameaça de incursões guerreiras dos bravos índios caiapó.
Acima do vau de passagem para Cuiabá, o Rio Claro exibia uma bela ilha arborizada e rodeada de praias de areias brancas. Onde se podia chegar pelos dois braços do rio com a água abaixo da cintura, no período da seca. Como de costume, a filha do Capitão e suas amigas, também filhas de dragões, acompanhadas de suas amas, foram se refrescar nas águas transparentes do rio, na ensolarada tarde de um domingo de setembro. Atravessaram para a ilha, acomodaram sob a aconchegante sombra das frondosas gameleiras. As moças, despidas de seus vestidos longos e trajando apenas as roupas de banho – macacões brancos de cetim, com pernas que cobriam até o meio das canelas e mangas cumpridas, com golas coladas ao pescoço – faziam algazarras, brincando na água e nadando, sempre sob os olhares vigilantes das amas escravas. Algum tempo depois, voltaram para a sombra, onde merendavam brevidade, biscoito de queijo, peta lambuzada com doce de leite, empadão e limonada. Enquanto conversavam trivialidades próprias de donzelas bem apessoadas, inesperadamente as amas e amigas da filha do Capitão, começaram a gritar histericamente: Socooorrooo…! Socooorrooo…! Socooorrooo…!
Quase todas as pessoas do Arraial saíram correndo na direção de onde vinham os desesperados gritos femininos. Quando o Capitão e alguns dragões seguidos de homens, mulheres, crianças e até cachorros latindo sem saber por que, se aproximaram do barranco do rio, viram as mulheres chorando, gritando e apontando para a mata, na outra margem… Ao dar por falta de sua filha, o Capitão agarrou a ama pelos ombros, deu-lhe um sacolejão para tirá-la do estado de choque, berrando para que lhe dissesse o que havia acontecido. Foi então que uma da amigas de sua filha contou o que havia acontecido: “Senhor, um homem negro lato e forte – escravo fugido – saiu do mato no meio da ilha e quando nós demos por fé, ele já tinha pegado sua filha. Agarrou ela pela cintura e atravessando-a debaixo do braço e com a outra mão tapando sua boca, saiu correndo na direção de onde tinha vindo, atravessou o rio do outro lado da ilha e sumiu na mata”… Alguns homens embicaram rio adentro atravessando para a outra margem, na tentativa de seguir os rastos do ladrão de moça…
Dentro de cerca de dez minutos o Capitão e dez de seus soldados já estavam no encalço do raptor de sua filha, armados de mosquetes, arcabuzes e garruchas. Um turbilhão de pensamentos e sentimentos dominavam a mente e o coração do pai angustiado. Espalharam-se pelo mato e cerrado. Vasculharam a margem do rio. Mas, o negro era esperto: chegara pela beira do rio, atravessando a estrada de fasto e, na fuga, fez o mesmo em outro lugar bem distante, confundindo os guardas que saíram ao seu encalço, mas, indo na direção de onde ele tinha vindo. Enquanto isso, o raptor ganhou distância na fuga com sua preciosa prenda. Logo o sol se escondeu atrás da Serra da Sentinela e a noite sem lua chegou. O capitão reuniu seus homens, fizeram uma fogueira. Deu ordens a quatro de seus soldados para que voltassem ao Arraial e trouxessem suprimentos e munição para uma semana. “Civis que quiserem fazer parte da caçada ao maldito” – disse o capitão – “podem participar, desde que banquem a própria despesa de alimentação e munição de suas espingardas”. Uns oito voluntários se prontificaram.
A alvorada começava a avermelhar o horizonte, anunciando que dia já estava nascendo. O Capitão, que havia passado a noite em claro, com parte dos soldados em sentinela, pôs todo mundo de pé, preparando para uma longa busca. Veio a segunda noite, a terceira e…, depois de cinco dias, sem encontrar qualquer pista, desistiram. Vasculharam toda a região até a barra do Córrego Guarda-mor. Atravessaram o Rio Claro, na altura do Funilão, subiram passando pela barra do Pilões, observando cada praia e trilha, procurando encontrar rastos que, porventura, indicassem para onde o escravo fugido teria levado a moça. Tudo em vão.
O raptor era um dos muitos escravos que fugiram, daqueles duzentos que os Brant haviam trazidos para Pilões, e formado um ultrassecreto quilombo nas entranhas quase impenetráveis da Serra do Impertenente (municípios de Fazenda Nova e Jussara, atualmente já devastada pelo desmatamento). Ali viviam em uma comunidade aculturada de convivência pacífica, formada de índios boróros, afros amantes da liberdade e cafuzos resultantes da miscigenação. Negro da etnia mina, alto, forte e ladino, atendia por Jerônimo, seu nome de batismo cristão. Mas, no quilombo, era chamado pela abreviação e adequação fonética de sua língua tribal, Jerô. Em sua terra, na mãe África, dizia ter sido príncipe: filho do rei de sua tribo.
Jerô, que era respeitado e amado no quilombo, ficara sem esposa: onça pintada, malvada, faminta, havia devorado sua cirola amada e o filhinho que carregava nas costas, quando vinha do ribeirão… Ficara só com duas filhas, uma virando mocinha e a outra ainda criança. Passara muitas luas acabrunhado pelos cantos, em um banzo profundo, depois de ter matada a assassina e pendurado o coro dela dentro de sua choupana. Cansado da solidão, ele começou a dizer que precisava arranjar outra companheira, pois, com seus trinta anos de idade, ainda tinha muita vida pela frente.
Certo dia levantou bem cedo e, sem dizer nada pra ninguém, desapareceu do mundo quilombola. Só mostrou a cara depois de sete dias, trazendo aquela beldade de pele clara e rosada (queimada de sol também), de olhos azuis e cabelos claros cor de mel, vestida com aquele traje que os “indoquilombolas” nunca tinham visto em filha de branco. Contou que pegara a moça no rio, lá no Arraial e foi para um esconderijo em uma caverna na Serra da Sentinela, que havia munido com tapioca, peixe seco, castanhas de babaçu e duas cabaças de água, para que pudessem passar o período de busca. Indagado pelos conselheiros idosos da comunidade quilombola, sobre maus tratos com a moça, o “príncipe raptor” garantiu: “Jerô tratô bem, com respeito, moça branca. Não fez maldade com ela. Não fez coisa vergonhosa, não buliu em virgindade dela. Jerô é cristão, obedece ensino de padre Confúcio, que batizou mim. Não dexô ela passá fome e sede. Só truxe ela amarrada pela cintura com corda de fibra de buriti, na cintura minha, para não fugir de mim. Jerô tratô moça branca com mimo, como princesa, quando ela ficô cansada, carregou na cacunda. Fez até tamanquinhos de raiz de tamboril, macia e manereinha como miolo de talo de buriti, com correias de embira de jangada para ela não machucar pezinho”. Mas o pessoal ficou apreensivo e com medo de que aquela arrumação do Jerô viesse trazer consequências trágicas para o quilombo, até então tranquilo e escondido no coração verde das serras.
Jerô agasalhou a amada em sua cabana, deitou-a em uma rede nova tecida com cordões de algodão branco e ganga, forrada com o couro macio da onça pintada que o havia deixado viúvo. Os dias foram passando e, de vagar, Jerô foi conquistando a cofiança de sua princesa, tratando-a com carinho, contando sua triste história e plano de casamento. Ela, sempre calada, ia acostumando com aquele mundo primitivo, propondo esquecer os confortos da vida civilizada, para amenizar seu sofrimento. Tinha consciência de que era impossível escapar daquele sertão isolado, cheio de onças, se não fosse resgatada por alguém de fora. Nem sabia a direção de onde viera, pois chegara ali andando só a noite. Passadas já duas luas desde que chegaram ao quilombo, Jerô preparou a festa para sacramentar a união conjugal. Ergueram um montão de lenha no centro da praça do quilombo, atearam-lhe fogo ao anoitecer e, no clarão da fogueira e da lua cheia, dançaram ao redor do fogo, cantaram suas canções sincréticas – indígenas e africanas – e se alegraram. Assaram carne de anta, de cateto, de paca, de veado mateiro, de jacu, de jaó, de juriti, de mutum e de peixes. Quando a lua ficou a pino, no meio do céu, o negro mais velho do quilombo e o pajé boróro, silenciaram o pessoal, mandando que todos se reunissem ao redor da fogueira, de mãos dadas, formando um grande círculo. Chamaram Maria Joaquina (agora apenas Maru) e Jerô para perto da fogueira. O ancião pegou a mão de Maru e o pajé a mão de Jerô e as uniram. Depois Mãe Conceição, negra mais velha da comunidade e rezadeira, derramou um pouco de mel sobre elas e ordenou-lhes que lambessem a mão um do outro. Derramou água para que as lavassem sobre o fogo. De mãos dadas deram uma volta na fogueira e, Mãe Conceição mandou todos se ajoelharem e rezar com ela um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Cerio em Deus Pai. Terminada a reza, fizeram o Sinal da Cruz e se levantaram. Logo em seguida todos deram gritos de júbilos. Celebração encerrada, os nubentes foram para sua cabana e cada um para o seu canto dormir.
Assim a vida continuou, passando meses e anos. Maru era bem tratada pelas mulheres e as crianças. As pessoas idosas devotavam-lhe um carinho especial. Ela, mesmo inconformada com aquela realidade vivenciada, em sua educação fina, também se relacionava bem com todos e até participava das brincadeiras das crianças, aprendera o dialeto da comunidade – um misto de língua indígena, africana e portuguesa. Jerô preparava-lhe deliciosos guisados: caranhas e pintados assados, às vezes salgados com sal de cinza de tronco de bacuril, beju de mandioca, paçoca de carne de capivara, de amendoim, batata e cará assados no borralho, milho cozido em panela de barro ou assado, pamonha, canjica, frutas silvestres, garapa de cana caiana e o que mais pudesse agradar sua amada. Às vezes, acompanhava Jerô e as outras mulheres quando iam pescar, refrescar no ribeirão, colher coisas na roça e frutas na mata. Cuidava de sua cabana, preparava comida, tecia tangas e fazia utilidades artesanais: peneira, jacá, cesta, tapiti para espremer massa de mandioca e outras coisas mais da criação quilombola.
No Arraial de Pilões, a vida de todos havia voltado à rotina. Exceto na família do Capitão-Mor, onde permanecia o vazio deixado pela ausência da filha donzela de dezesseis anos. A mãe estava esquelética, com olheiras fundas, seu consolo era chorar e rezar na igreja. O pai, mesmo no comando do quartel, deixava transparecer no semblante a profunda dor que torturava sua alma. Nunca mais alguém o viu sorrir. Conversava somente o que era pertinente ao seu ofício. Para tornar seu sofrimento ainda mais doloroso, a moça raptada era filha única! Os anos foram passando. Aos tropeiros que iam para Cuiabá ou de lá vinham, prometia valiosa recompensa a quem lhe desse alguma pista que pudesse levá-lo algum quilombo, quer fosse antes ou depois do grande Rio Araés (Araguaia). Esteve no Registro onde deixou instruções a respeito de suas buscas. Recebera convite de transferência para Vila Boa, mas, recusou. Seu instinto paterno lhe dizia que sua filha estava viva e um dia haveria de encontrá-la, mesmo tendo já passado sete anos de espera.
Certa manhã, no Arraial de Pilões, dona Maria do seu Pedro Maia – casal de negros alforriados – deu falta do seu forno de cobre de torrar farianha (tacho raso e de fundo largo). Mais que depressa deu parte à autoridade competente sobre o fato ocorrido. Após averiguar as circunstâncias envolvendo o furto, o Capitão percebeu que o meliante agira de maneira idiota, pois nem teve o cuidado de não deixar rastos: foi embora pela estrada tropeira, atravessou no vau do rio e, pouco depois, se desviou à direita, entrando no cerrado recém-queimado. Um lampejo de esperança, naquele momento, brilhou em sua alma: “Deve ser algum quilombola de inteligência curta… Vou descobrir onde fica esse quilombo… e encontrar minha filha…”. Pensou. Acompanhado de dez dragões, o Capitão seguia, sem dificuldades, as pegadas do “ladrão de tacho”, deixadas nas cinzas. Algumas horas depois, porém, uma manga de chuva, que caíra à noite, apagou os rastos. Agora passaram a seguir a pista deixada pelos cortes nas árvores do cerrado, feitos pelas bordas do tacho, nas esbarradas que o quilombola dava em sua apressada caminhada. Quando o sol já pendia para o poente, chegaram aonde o Ribeirão Impertenente que faz barra com o Rio Claro, pela margem direita. Atravessara o rio e seguiram a batida do infeliz por uma trilha disfarçada, quase imperceptível, ladeando a margem direita do ribeirão, através do cerradão fechado, rumo à Serra do Impertenente. Tendo andado cerca de duas léguas, acamparam discretamente, sem ascender fogueira, para pernoitar, pois não dava para chegarem ao suposto quilombo ainda com sol de fora. Jantaram rapadura com paçoca de carne de vaca socada no pilão. Alguns completaram a refeição com uma canecada de jacuba (rapadura raspada com farinha de mandioca e água fria).
Ao raiar do dia, levantaram acampamento. Deixando o cerrado, embrenharam pela floresta densa enleada de cipós e moitas de tabocas. Caminhavam por uma picada estreita, aberta na mata cheia de babaçus que chegava tapar as folhas. O Capitão se irritava com a algazarra dos bandos de macacos pregos e guaribas, temendo que o alvoroço da bicharada denunciasse sua presença. Até as gralhas e os pica-paus enredeiros pareciam estar fuxicando para os habitantes da floresta, que algo estranho estava acontecendo. Subiram uma serra íngreme, desviando de gigantescos rochedos de granito, desceram pelo outro lado, atravessaram um vale de floresta escura cortado por um ribeirão de águas cristalinas, forrado de cascalho liso e correnteza graciosa que deslizava por entre emburrados de pedra. Subiram outra serra, alcançaram o topo mais alto, onde encontraram um pequeno descampado natural, de vegetação baixa, rala e capim crespo, que permitia ver outros vales e serras que se sucediam, cobertos de matas, a perderem-se de vista no horizonte, para a banda do norte. A meia légua, mais ou menos, viram um coluna de fumaça que se erguia de um vale amplo na furna da serra. Desceram as cargas, mataram a sede, recobraram o fôlego e prepararam para o assalto final, pois não tinham dúvida que estavam chegando ao desconhecido quilombo da Serra do Impertenente.
A umas duzentas braças, na copa de um frondoso jatobá, que sobressaia a mata sobre um pico da serra, de um lado do vale, um garoto quilombola, encarregado da sentinela naquele dia, estava sentado entre as grossas galhas, depois de ter escalado o gigante da floresta por uma escada improvisada com os cipós imbé que pendiam do alto pelo tronco até se enraizarem no chão. Quando percebeu aquele monte de soldados saindo da mata e se aglomerando no “peladô” da serra, observou a movimentação por alguns instantes e desceu que nem quati assustado por tiro de espingarda. Dentro de alguns minutos já estava no arraial construído ao redor de um descampado circular, com pouco mais de duas dezenas de ranchos, todos com a frente voltada para o largo central e os fundos colados na mata fechada, para facilitar eventual escape. O garoto, antes de levar seu aviso aos que estavam na roça, se colocou no centro da praça rudimentar e berrou: “Dragão! Dragão! Homem branco! Soldado! Fujam”. Logo todas as cabanas estavam vazias. Não havia uma só alma vivente no arraial de ranchos. Todos tinham evaporado em busca de abrigo no coração da mata, a maioria mulheres odiosas e crianças, pois os demais moradores estavam cuidando do plantio, lá nas descambadas de outra furna, já que, como medida de proteção, faziam os roçados longe do arraial. Apenas Maria Joaquina ficou, escondendo-se em sua cabana, na esperança de que seu sonho de reencontrar sua gente estivesse acontecendo.
Passo por passo, o Capitão e seus soldados foram aproximando da aglomeração de ranchos. Determinou que seus homens armados se postassem em derredor do arraial para alvejar qualquer fugitivo. Ele chegou pela trilha da frente, deu um tiro de garrucha para cima, esperando que houvesse algum movimento. Silêncio total. Então, enchendo os pulmões, gritou com toda força possível: “Maria Joaquiiiiinaaaa!” Sua voz ecoou pela mata até às encostas das serras! Logo escutou uma voz feminina que vinha de dentro de uma das cabanas, do outro lado do largo central: “Paaaiêêê…! Estou aquiii…!” Numa carreira tresloucada, o Capitão disparou na direção de onde viera a voz. Ao entrar na cabana, lá estava sua filha seminua, acanhada, trajando apenas uma tanga rústica de algodão, com os braços cruzados cobrindo os seios, e banhada de pranto, mas, radiante de alegria! O pai, esbabacado, tirou a casaca, envolveu a filha com ela e ficaram abraçados por algum tempo, banhados em lágrimas. Nesse ínterim, os soldados já haviam se aglomerado dentro da cabana e também choravam e riam ao mesmo tempo. O sol formava sombra apenas ao redor dos pés, quando o inesquecível encontro aconteceu.
No compartimento da cabana que servia de sala e cozinha, os soldados sentados em bancos feitos de tabocas, tipo jirau, e o Capitão, sobre o pilão usado para socar milho e paçoca, ouviam Maria Joaquina relatar sua dolorosa saga, interrompida com frequência pelas ansiosas perguntas do pai. Falou do modo de vida dos quilombolas e como, resignadamente, se adaptara à nova vida. Mais uma vez o Capitão, furioso, interrompeu a filha para indagar sobre onde estava naquele momento o escravo maldito, se estava na roça ou se tinha fugido também… Maria Joaquina então contou que ele estava garimpando diamante e ouro nos travessões do Rio Claro. Saia de madrugada e só voltava à tardizinha. Então sentenciou: “Vamos ficar aqui escondidos, esperando até ele chegar, para eu acertar as contas com aquele miserável…” Maria Joaquina aconselhou o pai a não usar de violência contra aquela gente, que não era ma, como diziam, e nem desejava fazer mal ao homem branco, apenas lutavam por viver em liberdade.
Indagada sobre como os quilombolas conseguiam adquirir produtos como ferramentas, armas, munições e outras utilidades domésticas essenciais industrializadas, Maria Joaquina explicou que era por meio de escambo, trocando diamantes e ouro em pó com os tropeiros na estrada de Cuiabá. Às vezes, o encontro se dava a muitas léguas antes de Campão (Fazenda Nova), outra vezes, muitas léguas para frente da passagem do Córrego Guarda-Mor (Jaupaci), lá para as bandas da Pulsada dos Mistérios (Fazenda Mistérios). O Capitão, desta vez, se levantou e, bufando de raiva, vociferou: “Tropeiros desgraçados!… Eu pedi para eles me avisar, caso soubessem da existência de algum quilombo e eles não me contaram essas coisas, preferiram tirar vantagens…” Maria Joaquina, então acudiu: “Vosmincê deve saber que os quilombolas são espertos, dão informações erradas sobre o local do quilombo e também juram de morte tropeiro que os delatar”.
Como o sol já ia passando do meio dia, mataram a fome comendo paçoca com rapadura. Os que tinham estômago forte entraram em uma panelada de feijoada de feijão-fava roxo, cozido com carne seca de anta, apimentada, acompanhada com farinha de mandioca, que Maria Joaquina preparava para o jantar naquele dia. O Capitão variou seu cardápio com peixe seco assado, preparado pele filha. Barriga cheia, a conversa continuou… Derrepente o Capitão deu fé que o sol já havia ido embora e a sombra da serra começava a cair sobre o arraial de ranchos. Pôs a filha e os soldados para se esconderem no segundo cômodo, que servia de dormitório, e ficou de tocalha na entrada da mata, à espera do “maldito”. A filha, não conformada com a determinação do pai de matar Jerô, se pôs ao seu lado, tentando dissuadi-lo de tal intento e que o deixasse fugir e assim, quando o dia amanhecesse iriam embora, deixando o Capitão intrigado e sem entender aquela insistência da filha… Derrepente, no túnel da trilha aparece o quilombola, forte, troncudo, com um saco nas costas trazendo uma bateia de pau e, na mão direita, um pintado de três palmos pendurado em um gancho. Quando o inocente homenzarrão ia se aproximando da praça do quilombo, o Capitão saltou para o meio da trilha com o mosquete apontado para seu peito e, sem dizer palavras, antes que a vítima pudesse pensar qualquer coisa, acertou-lhe um tiro mortal. O homem tombou caindo para trás, com a bateia e o peixe fresco ao seu lado.
Foi então que um garoto, de mais ou menos seis anos de idade, sem camisa e vestindo apenas calção, de olhos azuis e moreno que nem jabuticaba desverde, apareceu em pé atrás do morto com os olhos cheios de pavor, sem entender nada, em estado de choque, imóvel como uma estatua… O capitão sacou da garrucha e, quando ia apontando-a para o mulatinho, Maria Joaquina saltou na frente, de braços abertos, pedindo-lhe: “Pai, pelo amor de Deus! Não mate o menino!… Ele é meu filho!…” E, em pranto, o pegou e abraçou. O Capitão, deixando cair o braço e ajeitando a arma na cintura, ficou ali parado, olhando para morto estirado no chão e para filha abraçada com a criança, enquanto mil e um pensamentos e recordações passavam por sua mente, trazendo à memória todos aqueles anos de angústias e a cena da morte de seu filho primogênito, com uma flechada em um ataque dos índios caiapó ao Arraial de Pilões, quatro anos antes do rapto de Maria Joaquina. Depois, virou para a filha e disse: “Por que tu não me disseste nada sobre isso…?” No silêncio mortal reinante naquele momento sem resposta, abriu os longos braços e abraçou filha e neto… Choraram copiosamente e, virando para a ela exclamou: “Acabou…!” Pegou a criança dos braços da mãe, apertou-a no peito e sussurrou ao seu ouvido: “Tu és meu neto, meu filho! Hás de ser um homem de bem!” E, virando para os soldados que presenciavam tudo esbabacados, disse: “Vamos embora! Hoje mesmo!” Maria Joaquina, de mãos postas para o céu, exclamou: “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado”!
Pilões viveu uma semana de festa. Na missa de gratidão, celebrada pelo retorno da filha, Dona Josefina Teles de Sá chorou muito, mas, de alegria! O Capitão Herculano Freitas de Sá voltou a sorrir. Seis meses depois, assumiu o comando da Companhia dos Dragões na Vila de Cuiabá. Maria Joaquina fez voto de castidade e entrou para o Convento da Capela do Menino Deus, das Freiras Carmelitas dos Pés Descalços, no Rio de Janeiro. Após a investidura do hábito, dedicou sua vida ajudando a cuidar de crianças das comunidades pobres: brancas e negras. O quilombo desapareceu, engolido pela floresta, ressuscitando, por certo, em outro recanto distante e mais seguro do sertão. Vinte e cinco anos depois, Pilões recebia um novo Capitão-Mor, para cuidar de sua segurança. O alto, forte e simpático mulato de olhos azuis e cor de jabuticaba desverde, Herculano Teles de Sá, filho de Jerô e Maru.
Mesmo com rigorosas correções ainda escapara alguns errios no capítulo 2 . Desculpem-nos, leitores e leitoras.
O autor.