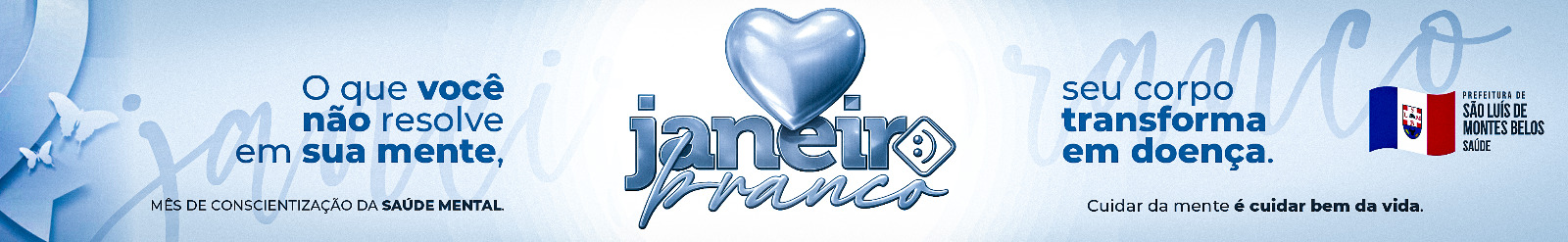Na linguagem gostosa de sempre, professor Moizeis Alexandre Gomis nos leva a um conto interessante e que nos transporta à Fazenda Pé de Pato de outrora, município de Iporá. Veja como uma teimosia tola pode ser um empecilho para a felicidade. É mais um capítulo do livro O CONTO QUE O POVO DIZ E EU CONTO POR MENOS DE UM CONTO. Em cada segunda-feira, você tem aqui uma boa história, em um misto de ficção e realidade.
CAPÍTULO QUATRO
TUDO POR CULPA DO FEIJÃO QUEIMADO.
Goiânia acabava de ser inaugurada, em 1942. Vários eventos fizeram parte da programação da festa inaugural que ficou conhecida como “o batismo cultural” da nova capital de Goiás. Além de ter representado o marco de uma nova fase de desenvolvimento do Estado, Goiânia criou novas oportunidades para muita gente fazer bons negócios de suas terras, por causa da especulação imobiliária. Antes da mudança da capital, as terras na região valiam uma pechincha. Muitos vendiam suas propriedades por preço de banana e migravam para outras regiões onde pudessem fazer novas roças, pois já não tinham mais matas para derrubar e ninguém valorizava cerrado e nem passava pela cabeça a ideia de trator para fazer “roça de chão arado”. Alguns proprietários impacientes simplesmente abandonavam suas terras e iam embora com a família adquirir outras com o dinheirinho do gado vendido, já que era a única coisas que dava dinheiro. Abandonos esses de propriedades que, anos mais tarde resultaram em muitas “pendengas” na Justiça, por parte de seus descendentes, tentando reaver as terras abandonadas, agora ocupadas por pessoas que se apoderaram delas e se tornaram proprietários pelo usucapião.
Com a construção de Goiânia, as coisas mudaram para melhor. Muitos pequenos proprietários venderam, por um preço jamais imaginado, suas terrinhas no Biscoito Duro e nos Dourados, nas redondezas da capital, e se mudaram para Itajubá (hoje Iporá), onde realizaram o sonho de virarem fazendeiros, comprando terras grandes, boas e baratas. Algumas famílias foram para a Jacuba, outras para Santa Marata e os pais de Bertoldo e Filomena, foram para as bandas dos córregos do Bugre e Pé-de-pato, onde compraram fazendas. (Alguém que já ouviu essa história, pode até dizer que foi em outra região, não importa!) Em um daqueles pagodes que se fazia depois de um animado mutirão, Bertoldo e Filomena se encontraram, pois, já se conheciam antes de se mudarem para Itajubá. Conversaram, dançaram e, tempos depois, marcaram a data do casório. Casamento de filhos de fazendeiros, naquela época, era festança na certa e comilança da boa, e tinha que ser no tempo da seca, pois com chuva era muito dificultoso.
O dia do casório havia chegado, era um sábado. Nas duas fazendas dos pais da noiva e do noivo, retiradas mais ou menos uma légua uma da outra, amigos e parentes de cada família se reuniram, ainda de madrugada. Logo que os galos cantaram a primeira vez, as salvas de foguetórios na casa da noiva e do noivo, ecoaram até lá no pé da Serra do Pé-de-pato, convidando toda a vizinhança, para o reforçado quebra-jejum, onde, em ambas as casas, não faltou café com leite adoçado com rapadura ou açúcar mascavo, acompanhado com pão de queijo, peta, broa de milho, brevidade, quebrador, mané-pelado, requeijão e paçoca de carne de sol. “Barriga cheia, pé na areia”, gritou o padrinho do noivo, apressando o pessoal para começar a cavalgada casamenteira. Na casa da noiva, todos já de panças cheias, também se arribaram. Logo todos se encontraram na estrada, perto da venda do Simãozinho, não muito longe do Rasga Saia. Juntos, foram para Iporá, realizar o casamento no Cartório do Registro Civil. Acanhados, os noivos iam na frente puxando o “noivado” de mais de uma centena de cavaleiros e “cavaleiras”. (Damas? Goiano matuto não sabia o que é isso não!). No assanhado folguedo do povo tinha rapaz cutucando as esporas no cavalo, pondo o animal para saltar fazendo bonito para as moças verem; outros davam rajadas de revólver rastando valentia; cavalos assustados com foguetes esborrachando a cara de bêbados na poeira da estrada; cantadores desafiando um ao outro com suas canções repentistas; gritaria e algazarra que só terminaram ao chegar na cidade. Pois, a polícia naqueles tempos era do estopim curto e se pião fizesse arruaça entrava no cassetete e tomava pescoções até “catar mamona”, além de chutes nos traseiros. E se não ficasse bonzinho ia parar no xilindró sem conversa e sem dó, lá no final oeste da Rua do Sapo (24 de Outubro), quase na saída para o Bugre, onde via o sol nascer quadrado e com os pés acorrentados no tronco, já que a cela era improvisada no porão de uma casa que fora adaptada para delegacia e cadeia. Nem havia construído ainda aquela “Cadeia Pública” que funcionou muitos anos, no final da Rua João da Mata, até ser demolida para se construir o prédio do SUDS.
Na corrutela, a noiva foi para a casa de uma tia para se arrumar e o noivo para a Pensão 28, na Rua 24 de Outubro. Prontos, ele, de paletó e gravata, e ela, de vestido branco, véu e grinalda na cabeça, se encontraram no Cartório do Registro Civil do Mestre Osório, que era também escrivão e Juiz de Paz, que já os aguardava. A cerimônia foi rápida, com leitura corrida dos termos do casamento e as formais perguntas feitas aos nubentes, que logo foram declarados maridos e mulher em nome da Lei. Tendo os noivos e as testemunhas assinado seus nomes no Livro, o cortejo nupcial foi a pé para a capela, onde o Padre José deu as bênçãos, quase que de improviso.
Já sem os trajes do casamento e montados em seus cavalos, nubentes e acompanhantes tomaram a estrada de volta para a fazenda do pai da noiva, onde um caprichado jantar de recepção esperava por todos. Na volta, como na ida, a furupa continuou durante todo o trecho da estrada. O noivado chegou já com o sol baixo. Os noivos passaram montados sob o grande e pomposo arco de flores de sempre-vistosas vermelhas (buganvílias) erguido nos dois morões da porteira principal da entrada do curral em frente à casa da fazenda, seguidos pelo alegre cortejo de cavaleiros e cavaleiras.
Os nubentes, após um banho caprichado, para se livrarem da poeira, sentaram em uma mesa preparada na espaçosa barraca coberta com folhas de babaçu, para jantar com os padrinhos. Os demais se serviram na comprida mesa improvisada com tabuas sobre forquilhas, forrada com belas toalhas brancas de algodão. Os serventes, com toalhas brancas envoltas ao pescoço e caindo no peito até à cintura, portando bacias esmaltadas cheias, abasteciam as mesas com arroz, feijão, carnes de porco e de vaca, “carne de lata”, lombos cheios, molho de frango, frango com gueroba, com macarrão, com quiabo, com pequi, couve refogada e banana e batata fritas. Para quem quisesse, tinha farinha de milho e de mandioca, pimenta malagueta, bode, cumari, curtidas no caldo de limão e no óleo de banha de porco, que fazia o camarada soprar e chorar sem querer. Pinga de engenho no “carote” de pau-sassafrás, para os que gostavam de abrir o apetite com um aperitivo e “fazer taca pro outros com o dedo indicador”, depois da tragada! Em outra mesa foi servida a sobremesa: doce de leite cremoso, em pedaços, com pau de mamão ralado, doce de casca de laranja-da-terra, de cidra, de mamão verde com figo e de banana. (Pé-de-moleque, esse era proibido em festa, pois amendoim misturado com carne, principalmente de porco, era trem danado pra dar congestão e sapituca). Para os que não dispensavam um “moquinha” depois da janta, dois bules grandes – um com café doce e outro amargo – estavam à disposição, ao lado de uma lavadeira cheia de xícaras mergulhadas em água, que servia para “enxaguá-las”, água que, de tanto enxaguação sem nunca ser trocada, ficava da cor de café ralo e grossa de tanta baba de bocas murcha, de boca de pito, de boca de bêbado…!
Após o jantar, começou o pagodão. Ao som de violão, viola, cavaquinho, sanfona e pandeiro, dançaram até lá “pras duas da manhã”. Então o pai da noiva, homem sistemático, explicou para o pessoal que, depois de um dia começado de madrugada e da cansativa cavalgada do noivado, era hora de todo mundo ir para casa descansar. Bertoldo também foi para a sua casinha nova, caiada de branco e de portas e janelas verdes, que havia construído e mobilhado, na cabeceira de uma vereda de buriti, na fazenda do pai, com quintal fechado, bica d’água na porta e monjolo, chiqueiro, paiol e curral. Tudo preparado com todo cuidado para agradar Filomena, que agora para ele era minha Filó, e ele, para ela, meu Bertô.
Bertô e Filó começaram a lua de mel à moda caipira da época. Na segunda-feira, às 5 horas da manhã, ele já estava em pé, ajudando o pai tirar leite. Logo depois, ainda bem cedo, ia para roça. Filó cuidava dos cansativos e rotineiros afazeres domésticos, como cozinhar para o marido – que lá pelas 9 horas chegava para almoçar, por volta da três da tarde merendava e, à noitinha, não dispensava a janta – além de tratar de galinhas, de porcos, lavar roupa, fazer sabão, descaroçar algodão e cardar, fiar, enfim, era uma serviceira que não acabava mais. Assim, vivia correndo pra lá e pra cá, fazendo as mil e umas coisas que a vida na fazenda exigia da dona de casa naqueles trabalhosos tempos. Para Bertô, sua vida era mexer com gado, plantar e zelar de roça, engordar capados, colher a safra de milho, de arroz, de feijão, moer cana e fazer rapadura, bater pastos, arrumar cercas, numa lida que durava de sol a sol, o ano inteiro.
Nessa labuta interminável, o casal de agricultores ia levando a dura rotina do campo, enquanto passavam as semanas, os meses e os anos, muitos anos… Vieram os filhos e filhas, cresceram, se casaram, foram embora. O casal de velhos vivia como dois estranhos emburrados, conversando apenas o estritamente indispensável e chamando agora um ao outro apenas de sô. Os dois vivenciavam a última das três fases bcb que, geralmente, acontecem nos casamentos. Nos primeiros tempos de casados dormiam coladinhos: a fase da barriga com barriga! Depois mudaram de posição, dormindo de costas ou de bruços: banda com banda! Agora, deitavam e pegavam no sono de costas um para o outro: estavam na fase do bumbum com bumbum! Não havia entre eles aquele companheirismo e amizade que se constrói no correr dos anos em uma convivência conjugal normal, saudável, próprias de um casamento feliz, apesar dos naturais problemas. E aquilo…? Acontecia lá de vez em quando…! Mas, deixa pra lá… Gente da roça não gosta de falar disso, não, é falta de respeito! E o tempo foi passando e Bertô e Filó continuaram com o sô pra cá e sô pra lá, cada qual mais mal humorado e sem paciência um com o outro.
Para piorar a situação, certo dia, seu Bertô chegou da roça para almoçar. Quando entrou na sala, dona Filó, como sempre, foi logo gritando: “Sô, pode vim comê! O armoço tá pronto há muito tempo”. A essas alturas da história, ela já estava almoçando, sentada no “rabo” do fogão caipira, com o prato no colo, como era costume na fazenda. Seu Bertô pôs a comida no prato, sentou num tamborete lá num canto da cozinha e foi comer. Cada um calado no seu canto, enquanto um silêncio total reinava no ambiente, só quebrado pelo barulho dos garfos rangendo nos pratos esmaltados. Logo o velho murmurou: “Uai sô, ocê hoje dechô o fejão quemá?!” Dona Filó, sem ao menos olhar para o marido, respondeu em tom seco e nervoso: “Nun quemô não!”. O marido reafirmou: “Ora, num quemô, quemô sim, tá cum gosto de fumaça!”. E a discussão continuou cada vez mais acalorada com ele insistindo na afirmativa e ela negando: “Quemô!” “Num quemô!” “Quemô!” “Num quemô!…” Até que ela se levantou, jogou o prato pra lá, na fornalha, entrou para o quarto, ajuntou suas coisas em uma mala, daquela meio roliça de Duratex, pegou suas economias guardadas no colchão e botou o pé na estrada para Iporá. Embarcou na jardineira bicudinha Mercedes Benz, do Jesus, para Rio Verde e de lá foi para o Biscoito Duro, onde moravam seus parentes. Seu Bertô, durão, sem “dar o braço a torcer”, não foi atrás. Apenas disse: “Qué imbora, qui vai!” “É cabeça dura, não aceita que o fejão quemô, pois o fejão quemô memo!” Nunca mais se viram. Não escreveram cartas um para o outro e nem “mandaram lembranças” ou recados, por meio de alguém.
Por fim, depois de vários anos, se encontraram na mesma fazenda onde viveram e haviam brigado, por ocasião da festa de casamento da neta mais velha. Durante a festa, nem dona Filó, nem seu Bertô, puxou conversa um com o outro. Na hora do almoço, os dois sentaram em um banco, um ao lado do outro. Tudo combinado pelos filhos (sem que eles soubessem, dando uma de Santo Antônio), na tentativa de reconciliar o casal turrão. Depois de algum tempo de silêncio, o velho Bertô, meio sem jeito, disse: “Pois é sô, fais tanto tempo que a agente num se vê, né”. “Cumé que ocê tá?” A mulher, meio sem graça, respondeu: “É…, fais muitos ano memo, né”. “Eu tô boa, graças a Deus”. O velho continuou: “Nesses ano todo, eu sinti sodade docê, sô”. “É memo?!” “Eu tamém sinti”. Respondeu a velha Filó, remexendo no banco. “Pois é sô, nóis já tá no fim da vida memo, o bão é que a gente terminasse nossos dia junto, né…” Concluiu o velho, já meio animado e com certa esperança… Quando tudo parecia que ia dar certo, Bertô, querendo descontrair mais o clima, caiu na bobagem de brincar com a velha, tocando no assunto do feijão queimado: “Afinau de conta, né sô, agente separô puruma coisinha tão boba, né?”. “Só pro causa que o fejão queimô…!” Dona Filó, mal o marido havia acabado de falar, ergueu a cabeça, com um ar soberbo e branca de raiva, e, em tom áspero e furioso, respondeu: “Num quemô não, seu cabiçudo!” “Quemôôô…, sô!” Insistiu seu Bertô. “Se eu já disse mais miu veis que num quemô, é pro que num quemô!” Esbravejou a mulher, pela última vez, ao mesmo tempo em que foi se levantando e indo lá para a cozinha, com o prato na mão, sem mais chance de conversa. Terminada a festa, dona Filó voltou para o Biscoito Duro. O velho Bertô continuou só lá no Bugre até morrer, sem nunca mais ter visto sua Filó.
Depois que seu Bertoldo morreu, dona Filomena veio morar com uma filha, no Pé-de-pato. No Dia de Finados, resolveu ir ascender uma vela na sepultura do marido e depositar uma coroa de flores de papel coloridas na cruz dele. (Talvez para aliviar algum sentimento de culpa, quem sabe?). Quando chegou ao cemitério que ficava na beira da estrada, cercado de lascas de aroeiras fincadas bem fundas, para tatu peba não fazer basquete com os defuntos, entrou pelo portão e passou cabisbaixa pelas pessoas que estavam compenetradas no cumprimento das devoções com seus mortos e foi até à sepultura do Bertô. Parou, deu uma estacada pra trás, e, sem acreditar no que via, ficou algum tempo em silêncio, olhado para a cruz e matutando em suas lembranças e dúvidas… Depois resmungou baixinho: “Nem dispois de morto, ocê nun dexa de sê temoso!” “Fica ocê sabeno, que o fejão num quemô!” “Disso ocê nunca, nunca, nunca vai mim convencê!” Ascendeu a vela e, antes de virar as costas e sair, pegou a coroa de flores e vestiu-a sobre a cruz que estava toda enleada e coberta por um vistoso pé de feijão florido e carregado de vagem!
Armação de alguém? Coincidência? Divina providência? O que importa? Não vai mudar em nada a situação. Pois, para a viúva teimosa o feijão nunca queimou mesmo!