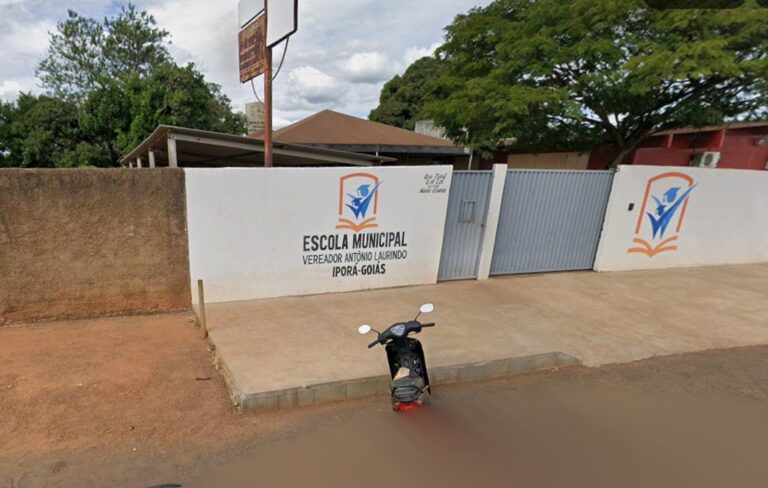Alan Oliveira Machado e João Paulo de Paula Silveira, professores na Universidade Estadual de Goiás (UEG), fazem reflexão muito atual sobre uma nova forma de ver o passado. Artigo feito a quatro mãos foi publicado no site Cultura e Realidade.
Segue texto:
O que significa uma estátua plantada no meio de uma avenida ou no centro de uma praça? O que ela diz e o que ela não diz sobre o presente e o passado do lugar e de quem a fixou como monumento? Essas perguntas surgem num momento em que milhares de manifestantes antirracismo derrubam estátuas centenárias mundo afora, não sem razão. Certas estátuas que se impõem aos transeuntes urbanos são fraudes, contam uma parte pequena da história sempre com um trato cosmético que lhe confere um colorido encantador, mas omitindo uma parte sombria e bem maior da história. Estátuas são sempre tentativas de congelar uma leitura do passado a partir do expediente da heroificação no presente. Elas celebram sujeitos e interpretações. Haja visto a estátua de Edward Colston, britânico que fez fortuna traficando escravos no século XVII, e que ornava uma praça de Bristol, personificando o semblante de um benfeitor da humanidade. A propósito, a estátua desse senhor racista foi arrancada do pedestal por uma turba de manifestantes, arrastada pela rua e jogada em um rio este ano. O que fez tal estátua ruir foi certamente o sentimento dos herdeiros da parte maior da história omitida há séculos.
Apesar disso, há quem se indigne com a iniciativa. Uma leitura pedestre da história produziu o entendimento de que a derrubada das estátuas no espaço público – e é bom frisar que as estátuas estão no coração das cidades – atenta contra a experiência temporal de um povo, contra sua história. Esse entendimento é equivocado porque repousa na compreensão de que há uma consciência histórica tão fixa como as estátuas derrubadas. Em textos fundamentais, como a Apologia da História ou O Ofício do Historiador, Marc Bloch nos lembra da relação do tipo mão-dupla entre passado e presente. Historiadores de ofício, mulheres e homens que se dedicam aos diversos itinerários temporais e cujo conhecimento não equivale à simples opinião, sabem que o passado, como experiência temporal anterior, criou o presente; por outro lado, eles nos lembram que é no presente que vivemos as “carências de sentido” que nos obrigam a olhar continuamente para o tempo vivido.
Por essa razão, a consciência histórica sofrerá alterações de acordo com as demandas e expectativas contemporâneas. A consciência que cristalizou determinada memória a partir de uma estátua poderá ser questionada por um número grande de sujeitos insatisfeitos e que não se sentem representados pelo monumento. No caso em questão, os sujeitos políticos excluídos da “história dos vencedores” demandam a superação da memória heroificada do branco escravizador. Não se trata, é bom dizer, de revisionismo na acepção usual e nociva da palavra – o revisionismo é sempre uma teoria conspiratória concebida por elites em delírio; antes, estamos diante do esforço daqueles sujeitos cuja luta cotidiana pela sobrevivência não aceita a celebração de atores do passado que contribuíram para a realidade excludente e racista no presente.
Há ainda aqueles que se opõem à queda das estátuas baseados em um “relativismo de conveniência” que tenta ostentar sofisticação: “Ah, naquele tempo as pessoas pensavam assim, não é possível julgá-las à luz dos valores atuais”. Palavrório! É óbvio que o anacronismo deve ser evitado quando lidamos com o passado, embora sejamos igualmente obrigados a considerar que mesmo no passado a vítima de determinada violência, como o escravismo, não experimentava seu sofrimento com a tranquilidade normalizadora dos dominantes. Derrubar estátuas não é destruir o passado – que já não existe, é bom dizer. O que de fato se procura é erodir determinadas leituras que o presente faz dele. Monumentos não são o passado em si, mas esforços de presentificá-lo a partir de projetos atuais. Dito de outra forma, todo monumento é uma realidade do presente sustentada por valores e ideologias contemporâneas; se o monumento foi levantado ontem e ainda está presente, ele perdura também por valores e ideologias atuais.
A palavra monumento, do grego mnimeío, remete a Mnemosine, a deusa da memória, da lembrança. Assim, uma estátua é um monumento. Sua função é lembrar, fazer presente algo da figura congelada no bronze, no mármore ou em algo que o valha. A estátua de Edward Colston com aquela feição suave e pensativa, tomada de certa altivez e nobreza, não diz quase nada sobre o que o tornou tão eminente. Em princípio, espelha uma pequena camada de sentidos postiços. Mas pelo trânsito da história pode-se apontar nela três camadas que precisam ser expostas. A primeira é a de comerciante sanguinário, assassino de negros, de famílias humanas. Nem é preciso dizer sobre a vileza do seu negócio. A segunda é a naturalização dessa prática no meio social em que viveu. A vida moderna da Europa sustentou o seu desenvolvimento sobre o trabalho escravo. As colônias europeias fora do continente produziam riquezas minerais e vegetais utilizando negros arrastados à força da África. Estima-se que só nas colônias a Inglaterra de Colston submeteu à escravidão quase 100 mil negros, sem contar que quase 30 mil desses africanos morreram de maus tratos decorrentes da sujeição aos brancos. A terceira camada é a contemporânea que faz vistas grossas às chagas deixadas pela escravidão negra no mundo. Entre essas chagas estão a condenação de seus descendentes à ignorância, à pobreza, a todo tipo de segregação e a objeto preferencial da violência. Assim, é possível entender que o levante mundial ocorrido depois do assassinato do negro George Floyd nos EUA que culminou com a derrubada de estátuas de opressores é uma resposta civilizatória. Ignorar a face escravista da experiência histórica moderna que constitui as potências do Atlântico Norte é insistir em uma leitura dos vencedores. Não dá mais para tolerar monumentos que afirmam práticas racistas e genocidas. Para isso, é fundamental descolonizar, no que for possível, a nossa consciência histórica.
A permanência de estátuas de racistas sanguinários como Colston, o Rei Leopoldo da Bélgica e centenas de outros racistas genocidas Europa afora, assim como Borba Gato, Anhanguera (espírito mau em tupy) e congêneres aqui no Brasil são um sintoma de que a parte da história silenciada por esses monumentos mantem-se silenciada, ou assentida pelas elites do poder como insignificante, o que é vergonhoso. No centro de Goiânia, por exemplo, ergue-se imponente a imagem de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, um senhor que escravizou e matou centenas de índios, sobretudo os Goyazes que dão nome ao estado e à capital. E o poder que levou o genocídio aos índios Goyazes está ali até hoje sendo afirmado simbolicamente pela estátua fálica fincada no coração da capital. A avenida Anhanguera cruza com a avenida Goiás. Onde a Anhanguera atravessa a Goiás está espetado como que no lombo dos índios a imagem do senhor que os caçou e os destruiu. Aceitar um Anhanguera altivo com seu mosquete e sua bateia de garimpo sem ter como contraponto uma estátua de igual porte de um índio goyá no mesmo cruzamento é dizer que o que aconteceu aos índios não tem importância. Executá-los, roubar suas terras, escravizá-los é parte do jogo do poder. Ainda bem que o mundo civilizado resolveu dar um basta nisso. Sigamos por aqui.
Alan Oliveira Machado é Doutor em Educação pela Universidade Federal de Goiás, professor no curso de letras da UEG/Iporá, escritor e poeta.
João Paulo de Paula Silveira – Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, professor no curso de História e no programa de pós graduação (Mestrado), em Morrinhos.