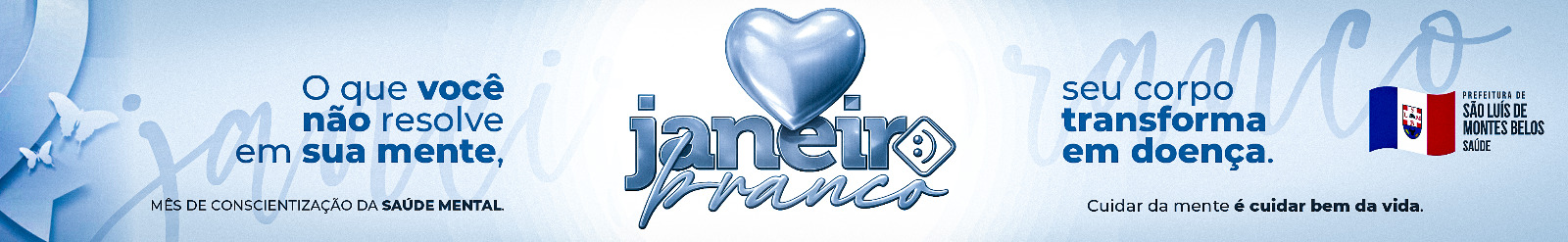Antigamente era assim… A descrição de Paulo Afonso sobre a importância do porco na vida das pessoas a cinquenta anos atrás, faz emergir lembranças inesquecíveis em todos aqueles que viveram no interior do Brasil naquela época. Como diz ele: “Do porco se aproveitava tudo, até o grito na hora da matança, para que os vizinhos soubessem que era dia de festa. A pele frita, meio pururuca, era de um sabor inigualável. Até ouço o créc-créc que fazia, ao ser mastigada. A boca enche d’água só de lembrar…”
O porco e o homem
Uma coisa comum na metade do século passado e que não se vê mais hoje com frequência, era a presença constante do porco em todas as casas. Não que ele se sentasse à mesa com os donos, na hora das refeições (embora algumas pessoas pudessem ser confundidas como o digníssimo animal), mas sempre havia um alojamento especial para eles no fundo do quintal. O homem e o porco não conseguiam viver separados. Em algumas casas, o porco tinha quase status de membro descartável da família; em outras, o homem é que se parecia mais com o porco. No fim das contas, a cidade inteira cheirava a chiqueiro, mas era um cheiro tão normal para nós, que ninguém percebia isso. Quase todas as pessoas usavam banha de porco para cozinhar, porque não eram muito comuns e nem muito baratos os óleos enlatados. E quando havia, eles eram, quase sempre, de milho, de arroz ou de amendoim, porque não existia soja no centro do país naquela época. Na realidade nunca havíamos ouvido falar neste grão. Os que conhecíamos eram processados longe de Goiás, com o frete aumentando mais ainda o preço. Além disso, o sabor da banha de porco estava enraizado nos costumes do povo.
Como a banha para fazer comida era indispensável, quase toda casa tinha um chiqueiro no fundo do quintal com, pelo menos, três porcos, sendo um no ponto de abate, outro de meia-ceva para chegar ao ponto quando a banha do primeiro já estivesse acabando e, ainda, um mais novo que ia entrar no lugar do meia-ceva. E, para tratar desses “senhores”, todo mundo tinha sua latinha para armazenar lavagem, colocada perto do jirau de lavar vasilhas. Era pendurada em local alto, para cachorro não mexer. Para complementar a alimentação desses porcos, logicamente havia necessidade de dar milho a eles e isso implicava em que toda casa tinha que ter um paiol para armazenar as espigas. Essa história de hoje, de ir a uma loja e comprar um saco de milho debulhado, nem passava pela cabeça das pessoas de antigamente. Construía-se um paiol perto do chiqueiro e comprava-se milho em espigas para passar o ano. Todo dia tinha que descascar as espigas e jogá-las para os porcos ou, então, debulhar essas espigas antes e jogar o milho já debulhado, muitas vezes colocado de molho de um dia para o outro, para aumentar a taxa de conversão alimentar e obter mais lucro.
Como consequência dessa tarefa de descascar milho todo dia, ia acumulando um montão de palhas no paiol, que eram utilizadas para acender o fogo pela manhã. Mesmo assim, sobrava muita e os açougueiros as aproveitavam para sapecar o porco que abatiam todos os dias, colocando um funcionário para recolhê-las nas casas. O mais famoso desses catadores de palha de milho que havia em Campo Limpo era o Paulista, aquele que morava com seu Evaristo, no Hotel Junqueira. Já falei sobre ele em capítulo anterior, mas cabe repetir aqui. Não há quem tenha morado por lá naquela época que não se lembre do velho Paulista arrastando os pés pelas ruas, carregando os sacos de palha de milho nas costas. Muitas vezes ia cambaleando, depois de ganhar umas doses de cachaça pelo trajeto que fazia. Ele gostava de chegar de surpresa por trás das pessoas, enfiar o dedo nas costelas do freguês e gritar: “cuíque!”. Era grande o susto e maior ainda o pulo, enquanto ele ficava morrendo de rir.
Dia de matar o porco na casa da gente era quase que uma festa. Os vizinhos e parentes ficavam na expectativa, porque era tradição mandar um pedacinho de carne para cada um deles provar. Isso era sagrado e, se não mandasse, era uma grande desfeita. Normalmente ia quase um quilo de carne, colocada em um prato esmaltado coberto por um pano de prato ou por um belo guardanapo de pano todo bordado. E sobrava para quem ir entregar esses brindes? Pra criançada, é claro. Fiz muito isso. Por falar nisso, as crianças da casa acordavam de madrugada no dia de matar o porco, para não perder o espetáculo que ia desde a sangria até o término da fabricação do sabão, no dia seguinte. Aproveitava-se, praticamente, tudo do porco, menos as fezes das tripas. O sangue era aparado para fazer linguiça de chouriço. Até o grito, na hora da sangria, era aproveitado, também, para acordar os vizinhos. Depois de sangrado, vinha o ritual de sapecar o dito cujo, para limpar a pele. Colocava-se palha de milho sobre o falecido e tacava-se fogo para, em seguida, ir raspando com uma faca para retirar toda a primeira camada da pele e todos os pelos, deixando tudo branquinho. Onde o fogo havia tostado mais, sempre ficavam umas manchas mais marrons. Fazia-se isso de um lado, depois virava-se o bicho e repetia-se todo o processo do outro lado.
Depois do porco sapecado e raspado, era arrastado para cima de umas folhas de bananeira para ser lavado com muita água de balde. Daí começava o processo de dissecação do bicho, abrindo-o pela barriga. Então, era hora de verificar quantos centímetros de gordura o danado havia conseguido acumular. Quanto mais, melhor para o seu dono. Abria-se a barriga com muito cuidado, para não furar as tripas e, depois, abria-se o peito, separando as costelas com a ajuda de um facão. Em seguida, com muito jeito, enfiava-se uma bacia grande por baixo da traseira do danado e arrastava-se a buchada com tripas e tudo mais, para dentro dela. Em outra bacia, acabava-se de recolher o restante dos miúdos, incluindo fígado, paquera, coração, esôfago e tudo mais que estivesse lá dentro.
As tripas eram separadas em grossas e finas e, depois de lavadas iam as primeiras, para fazer sabão e, as outras, para continuar a ser muito bem limpas, viradas e reviradas com um talo de mamão ou com uma varinha fina, esfregadas com bastante limão, depois colocadas para secar e reservadas para as linguiças. O bucho era, também, muito bem lavado, para depois ser recheado com carnes ou miúdos, costurado bem e separado para ser servido como um prato muito gostoso em dia especial. Os miúdos serviam para fazer o famoso sarapatel ou para rechear o bucho. Os rins eram lavados, partidos longitudinalmente ao meio e muito bem temperados para, em seguida, serem assados na chapa do fogão a lenha, para serem consumidos na hora. Era uma delícia, mas hoje eu não tenho mais coragem de comer isso não. O miolo era tirado com jeito, para não se separar, temperado muito bem, enrolado em palha seca de milho, amarrado pelas duas pontas e, em seguida, colocado para cozinhar. Normalmente era consumido no almoço do mesmo dia. Os pés eram, de novo, muito bem sapecados para retirar todos os pelos; as unhas eram enfiadas em fogo forte para se soltarem, depois era feita uma verdadeira toalete para terminar de limpar bem e, em seguida, eram rachados ao meio no sentido longitudinal, salgados com bastante sal e colocados sobre o fogão a lenha para irem secando e defumando, até chegar o dia da feijoada. Os beiços do porco, as orelhas, o rabo e a pele cortada em pedaços pequenos, tinham o mesmo destino: juntar-se aos pés do porco na hora sagrada da bendita feijoada. A pele era consumida de outras maneiras também, tais como em pedacinhos crus e salgados, como pele frita ou, ainda, na forma de geléia. A pele frita, pururuca, não tinha nada igual. Até ouço o créc-créc que fazia, ao ser mastigada. A boca enche d’água só de pensar…
Mas do porco, o produto mais nobre mesmo era o toucinho transformado em banha, porque era com ele que todos os outros alimentos iriam ser preparados ou conservados depois. O sucesso da engorda do porco era medido pelo número de latas de banha que se obtinha de cada um deles. Geralmente eram duas latas e meia a três, podendo chegar até a mais, dependendo da raça do porco. O piau e o colher eram menores, mas engordavam logo e, portanto, eram os preferidos. Quando se conseguia um porco que desse mais de quatro latas de banha, todo mundo na cidade ficava sabendo e o dono do porco ficava se vangloriando o resto do ano. Mas, depois do porco morto até se chegar às latas de banha, havia todo um ritual. Primeiro, o toucinho era separado da pele e das carnes, fatiado em pedaços de um centímetro de largura por uns cinco centímetros de comprimento ou, mesmo, em cubos pequenos, que eram jogados no tacho e levados ao fogo da trempe, para fritarem bem.
No final do dia a banha se separava quase toda do toucinho, ficando o torresmo frito e ainda impregnado de gordura boiando dentro do tacho quente. Colocava-se um pano limpo na boca de uma lata de vinte litros e ia se jogando a gordura ali dentro pra coar. Para arrematar, depois de passar toda a banha por esse pano, acumulando-a em diversas latas, era a vez de aproveitar o resto de banha que ainda havia ficado impregnada no torresmo. Prensava-se esse torresmo e completava-se o volume das latas que ainda não estavam cheias. Nessa hora a meninada ficava toda em volta, aguardando o torresminho tostado para sacar aqueles pedaços que tinham um naco de carne grudado. Que coisa gostosa! Era muito comum, depois da lata cheia, soldar a boca com umas barras de estanho e um ferro de solda, apetrechos muito usados antigamente. Depois, o resto do torresmo espremido era destinado ao feitio do sabão.
As carnes de porco e as linguiças caseiras
As carnes do porco abatido em casa tinham tratamentos diferenciados. Minha mãe separava as capas-de-costelas e os pernis dianteiros para serem picados para a confecção das linguiças; os pernis traseiros eram para ser assados no forno do fogão a lenha; os lombos eram, da mesma forma, para assar no forno do fogão, da maneira normal ou recheados; as costelinhas, para serem fritas ou assadas; a suã para ser feita no meio do arroz, muitas vezes no almoço do dia da matança do porco. Esse era um prato tradicional, feito devagarzinho no fogão a lenha, cujo sabor não se compara a nada. Roer a carne que ficava pregada na suã, depois chupar o tutano do buraquinho central ou então enfiar o dedo para empurrá-lo para fora, para ser saboreado, era um ritual inigualável e inesquecível. Duvido que todos daquele tempo, ao ouvir falar no arroz com suã feito em fogão de lenha, não vão se lembrar da comidinha da mãe na sua infância.
Além dessas carnes mais nobres, tinha ainda aquelas com ossos e mais alguns pedaços de uns oito centímetros de tamanho, que eram fritas e conservadas dentro da banha, para serem consumidas nos meses seguintes. Que delícia eram essas carnes depois, quando a gente retirava da lata, esquentava, jogava uma farinha de mandioca bem torrada por cima e ainda juntava com uns pedacinhos de mandioca cozida, daquelas que vem derretendo… Completava com uma pimenta bode ou malagueta amassada no canto do prato. Quer que fale mais alguma coisa? Era, portanto, um ritual fabuloso, que envolvia vários dias para terminar e mais outro tanto para limpar a lambança que fazia.
A preparação da linguiça de porco era uma seção à parte e envolvia outro ritual. As carnes eram picadas em pedacinhos de pouco mais de um centímetro, temperadas a gosto – sabendo-se que o ‘a gosto’ de minha mãe era sempre carregado na pimenta –, geralmente levando ainda alho e cebola e, depois, deixadas descansando por algumas horas para o tempero entranhar bem. Em seguida, vinha a fase de encher a linguiça, e esta parte tinha que ser feita com muita paciência. Utilizavam-se, para isso, as tripas que haviam sido preparadas naquele dia ou, então, tripas de um porco que havia sido abatido antes, e que haviam sido conservadas cheias de ar sobre o fogão a lenha, portanto, sequinhas e defumadas. Era o último trabalho da tarde, no dia em que se matava o porco.
Havia necessidade de se utilizar uma espécie de funil de bico grosso, que era vestido em uma das pontas da tripa, para ir colocando carne picada e ir empurrando para baixo. Minha mãe usou muito o carretel grande que vinha com esparadrapo. Serrava-se ao meio e dava duas peças. Usava, também, espinhos de laranjeira para ir fazendo pequenos furos na linguiça, à medida que ia enchendo, para expulsar o ar que ficava lá dentro. Se o ar ficasse retido, a carne estragava naquele local.
No começo da noite, o varal já estava cheio de linguiças, que eram deixadas para escorrer. Ficavam ali por uns dois dias, sendo preciso limpar as varejas de duas a três vezes por dia, principalmente nas dobras que se assentavam sobre o varal, porque ali não corria ar e, por isso, as linguiças ficavam mais úmidas, atraindo as moscas. Elas preferiam, sempre, esses lugares. Depois de dois dias, com as linguiças já escorridas, levavam-se todas elas para outros varais que ficavam sobre o fogão a lenha, para terminar a secagem e propiciar uma leve defumação. Ficavam, depois, de sabor incomparável. Faz muitos anos que não como uma linguiça dessas.
O sabão caseiro
Havia dois tipos de sabão que as pessoas faziam em casa: o sabão de decoada, preparado com uma solução obtida da cinza, juntada ao torresmo de porco; e o sabão de soda, obtido, também, do cozimento dos restos do porco abatido em casa, aos quais se juntava sebo e soda cáustica. Acho que cada família daquela época tinha lá sua fórmula particular de fazer o sabão caseiro. O sabão de soda que minha mãe fazia era preparado no dia seguinte ao da matança do porco, com a sobra das coisas que se aproveitavam, principalmente as mais gordurosas. Na receita de minha mãe, colocavam-se em um tacho grande, que normalmente era a metade de um tambor de duzentos litros, as tripas grossas, as gorduras que eram retiradas das tripas finas e o torresmo espremido do toucinho que havia sido fritado para a obtenção da banha de porco. Juntavam-se a esse material uns cinco quilos de sebo de vaca, meio quilo de breu e um quilo de soda cáustica. Adicionava-se um pouco d’água e levava-se ao fogo, deixando cozinhar por um dia todo. O segredo, segundo minha mãe, está na quantidade de água que se adiciona. Tem que adicionar muita água e ir completando, à medida que vai secando.
Quando começa a cozinhar mesmo, começa também a espumar. Mexe-se com uma pá de madeira de cabo comprido, para a espuma ir baixando. No fim do dia, todos os ingredientes já derreteram e a massa adquire, então, uma consistência pastosa, indicando que o sabão já está quase pronto. Deixa-se chegar ao ponto mais um pouquinho e, em seguida, retira-se o fogo e deixa esfriar até o dia seguinte. Quando sentir que está realmente frio, estende-se um pano ou um plástico no chão (naquele tempo plástico era um produto de luxo e não podia estragar) e vira-se a boca do tacho para baixo, deixando o bloco de sabão descer por sobre o forro. Daí é só cortar em pedaços com um facão, do tamanho que interessar. Fica espetacular, macio, com uma cor cinza azulada, especial para lavar roupas e vasilhas da cozinha.
Havia o outro tipo de sabão caseiro, denominado de decoada, mais utilizado nas fazendas, talvez por não usar soda cáustica, que tinha que ser comprada na cidade e, também, porque na zona rural se produzia mais cinzas nas fornalhas, cozinhando para peões. Além disso, o melhor produto para se fazer a decoada era a cinza de palha de feijão, que só havia na roça, e uma vez só por ano. Não sei ao certo a receita desse dito-cujo, porque minha mãe não fazia esse tipo de sabão, mas me contaram mais ou menos como era a coisa. Consistia em fazer um depósito suspenso, denominado barreleiro, para ir jogando a cinza do fogão todas as manhãs, antes de ascender um novo fogo ou, preferencialmente, a cinza da palha de feijão. Esse depósito podia ser uma lata de vinte litros, com um furo na parte de baixo. Depois, ia-se adicionando água aos poucos a essa cinza e aparando o caldo embaixo, com uma vasilha esmaltada, à maneira de coar café.
Esse caldo é, na realidade, uma espécie de soda cáustica. Tinha lenha que dava mais cinzas que outra e era a preferida para essa finalidade. A maria- pobre era a melhor. Obtido o caldo da cinza em quantidade suficiente – o que demorava de dez a quinze dias para cinzas de lenha, e uns quatro a cinco dias para cinzas de palha de feijão –, juntava-se o torresmo espremido resultante da matança do porco e levava-se ao fogo para o cozimento. Depois de tudo derretido e do ponto pastoso, deixava-se esfriar um pouco e, com a massa ainda morna, faziam-se as bolas de sabão na mão mesmo, as quais eram estocadas para durar vários meses, geralmente sobre uma tábua colocada no alto, perto do girau de lavar vasilhas, para serem utilizadas à medida da necessidade.