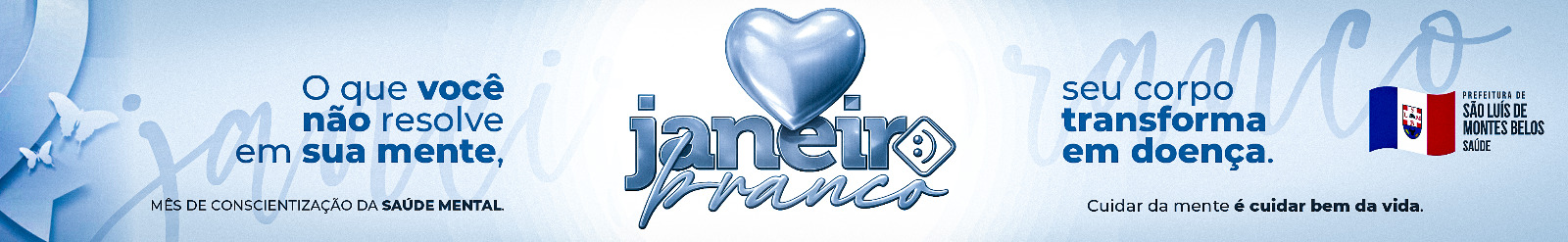O livro do Professor Moizeis Alexandre Gomis começa ser publicado aqui neste site. Aqui está o primeiro capítulo de O CONTO QUE O POVO DIZ E EU CONTO POR MENOS DE UM CONTO, obra que mistura ficção e aspectos reais de um tempo e de um povo. Vamos à leitura:
CORREÇÃO.
Desculpem. Por confusão na hora de enviar o capítulo um, para ser publicado no jornal, postei no e-mail um texto não corrigido, contendo erros. LEIAM AGORA O TEXTO FINAL COM AS DEVIDA CORREÇÕES.
CAPÍTULO UM
ZÉ BACANA E O CACHORRO DOIDO
Zé, como todo mundo já sabe, por esse Brasil afora, é a forma abrevia popular e carinhosa do nome José, comum como João, Pedro, Manoel, Antônio, Maria, e tantos outros, que eram dados ao filho ou filha de acordo com o nome do santo ou santa do dia do nascimento da criança, indicado no bloco da “folhinha” do calendário. José da Conceição era seu nome de batismo dado pelo pai, seu Francisco – o seu Chico Carapina, como era conhecido na redondeza, por ser habilidoso fazedor de carro de boi e de engenho de pau de moer cana-de-açúcar – em acordo com sua mãe, dona Sebastiana das Graças, que todo mundo conhecia por dona Tiana, mas que seu Chico e as pessoas mais chegadas sempre a chamavam de Gracinha, que, na verdade era banguela com menos da metade dos dentes na boca, magra como uma prancha de casqueiro, e tinha um papo do tamanho de uma bola de sabão, do lado esquerdo do gogó; como o marido, não largava de um “cheiroso pito de palha”, que, quando não estava fumegando no canto da boca, repousava enganchado na orelha direita. José era o caçula do casal de sertanejos, além dos outros sete “filhos homens” e cinco “filhas mulheres” que formavam sua prole!
José, ou Zé como todos lhe chamavam, por ser a “rapa do tacho”, desfrutou das regalias próprias dos filhos caçulas. Foi criado de forma mimada, principalmente pela mãe e as irmãs mais velhas, e pela vovó Ambrosina. A sua condição “privilegiada” de moleque “queridinho” o livrou de ter que ir pra a roça pegar no “cabo da sem-graça”, como acontecera com seus irmãos, desde os sete anos de idade. Zé, ao contrário, ao completar o sétimo aniversário, ganhou uma lousa portátil (uma tabuinha de pedra de escrever com giz, retangular, de um palmo e meio de comprimento por um palmo de altura, moldurada com madeira), uma cartilha “VAMOS ESTUDAR”, um caderno de caligrafia, um para cópias e outro só para fazer contas. Sua sina teria que ser diferente dos irmãos e imãs. Em vez de pegar no pesado, como fazia seu pai e irmãos, a mãe queria que ele fosse para a escola estudar a fim de ser “alguma coisa na vida”. E lá se foi o Zé estudar com o Mestre Lindolfo, matando de ciúme e inveja os irmãos e irmãs mais velhos, os primos e, principalmente, os meninos e meninas da vizinhança que tinham sua idade e que os pais não importavam de lhes dar estudo.
Seu Lindolfo era conhecido como homem letrado. Havia estudado até “o quarto livro” (equivalente ao primário) e aprendido a ler, escrever e fazer as quatro operações de contas: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Também lia desembaraçado “que nem um doutor”, além de ter uma letra que deixava as pessoas encantadas quando escrevia na lousa grande (o quadro negro) e viam suas cartas. Ele dizia que aquilo era estilo manuscrito aprendido na Cartilha Felisberto de Carvalho. Letra tombadinha pra frente e tão comprida que o éle, o tê, o dê, por exemplo, chegavam a tocar na linha de cima e a perna do pê, do éfe, do gê e do quê, encostavam na linha de baixo. Homem de uma conversa boa, que gostava de caçoar. Mas, na escola, isto é, no rancho onde dava aula para todo mundo junto, ficava sério, de cara carrancuda. Durante a aula, não ria de jeito nenhum. Com ele o aluno ou aluna, ou dava a lição e a tabuada na ponta da língua ou então a “palmatória estralava bonito na mão do infeliz”. Se algum engraçadinho caísse na besteira de fazer alguma gracinha, para ver se fazia ele rir, coitado!… “Estava no mato sem cachorro”! Ficava ajoelhado em cima de grãos de milho debulhados, na frente da sala e olhando para os demais colegas. O pior, era se alguém risse: ia fazer companhia para o “condenado”.
De onde viera esse professor misterioso e durão, ninguém sabia ao certo. O que se sabia dele, por alto, é que era mineiro, lá das bandas de Bambuí, que era casado e havia largado a mulher, há muitos anos, com um renca de filhos e filhas e viera para Goiás. Por que abandonara a família, não explicava para ninguém, nem para o padre em confessionário. Dar aula era ofício de passatempo. Na verdade, ele gostava mesmo era de trabalhar de “meia praça”, garimpando diamantes e ouro de aluvião. Era homem bom, que falava pouco, de conversa maciosa, respeitador da família alheia e trabalhador. Não podia ver um rio e cascalhos lisos que rasgava um sorrisão e desejava logo um jogo de peneiras e uma bateia e sonhando empolgado dizia: “Um dia ainda hei de bamburrar, e então vou deixar de viver essa vida de “morar debaixo do chapéu”, pra aqui e pra acolá, dando aulas particulares nas fazendas”!
Todo dia, de segunda a sexta-feira, o Zé do Chico Carapina levantava cedo, “quebrava o jejum” com um copão de leite com café adoçado com rapadura acompanhado um dia com peta, outro dia com pão de queijo e às vezes com brevidade ou Mané-pelado. Botava a cartilha, lápis e borracha, os cadernos e a lousa numa capanga alçava-a ao pescoço, pegava o caldeirãozinho de boia, que servia de almoço e merenda e se mandava para a escola que ficava a uma légua e meia de distância, na fazenda do tio Antônio Procópio. A escola era um ranchão coberto de folhas de buriti e paredes de pau-a-pique. As carteiras improvisadas eram duas fileiras de tabuas de doze palmos de comprimento por um palmo e meio de largura e dois dedos de grossura, pregadas em estacas fincadas, de cerca de quatro palmos de altura. Os bancos eram feitos do mesmo jeito: tábuas da mesma largura e estacas de dois palmos e meio de altura. Os alunos, em turma multisseriada, sentavam quatro ou cinco, um ao lado do outro em cada banco e na outra fileira, ficavam as meninas. Estudavam das 08 horas da manhã até às 04 da tarde, com uma hora para fazer o quilo do almoço, por volta do meio dia, pois estudar com a barriga cheia era perigoso, podia dar “sapituca”, e meia hora de recreio.
Nessa labuta, o Zé continuou seus estudos. Menino inteligente e esforçado, passou para trás até colegas mais velhos do que ele. Com três meses terminou a cartilha e já as bia ler e escrever mais ou menos. Com mais três ele terminou o primeiro livro. O certo é que depois de um ano e alguns meses, o Zé havia concluído o quarto livro e já fazia tudo o que o Mestre Lindolfo sabia fazer, só não dava conta ainda era de ler de pressa como ele e de imitar a sua letra jeitosa. O professor, então, foi até a casa dos pais do Zé para dizer-lhes que a empreitada estava pronta, que seu filho havia terminado o “quarto ano” e ainda fez elogios sobre o desempenho do aluno: “Pois é, seu Chico e dona Gracinha, esse menino doceis vai longe. Agora oceis precisa é mandar ele pra cidade pra fazer o Ginásio e depois o Colegial. Ele ainda pode ser um dotor um dia. E pela inclinação quele tem, que eu tenho biservado, acho que ele dá pra ser médico. Pois me disse que gosta de ajudar a distrinchar frango, porco, vaca e vive matando insetos para ver o que tem dentro da barriga deles”. Dona Tiana, mais que depressa entrevio na conversa, quase explodindo de satisfação e com um sorriso todo prazeroso: “I é memu seu Lindofo, é dessi jeitim memu. Mais cumu u sinhô sabi bisservá as coisa!” Já o seu Chico, ainda que satisfeito e orgulhoso do filho, fez a sua ressalva, enquanto tentava, com sua “binga faisqueira”, acender o pito de palha que acabara de enrolar, dando fuziladas com um pedaço de lima KF numa “pedra-de-fogo fígado de galinha”. “É… Meste Lindofo, eu já vi qui essi mininu tem uma cabecinha danada de boa memu. Só qui a genti é fraco de situação e o sinhô sabe, né, qui formá um fio só é pussivi pra quem é rico, né. Pra mim qui vivi de agregadu i trabaianu de carapintero, eu achu muintu difissi. Mais seja u qui Deus quisé, né…”.
Os anos foram passando e o Zé continuou sua vida sem estudar e na moleza fazendo o serviço mais leve da fazenda, como cuidar da horta, apartar as vacas, ajudando a tirar o leite e tratar de porcos e galinhas, pois seu João Carlota, o fazendeiro agregador dono da fazenda onde seu pai já morava há mais de vinte anos, gostava muito dele. Certo dia, seu Leodoro Baiano, dono da venda da ponte do ribeirão Santa Marta, na beira da estrada da Boa Vista Pé de Porco, ao saber da sabidagem do menino, apareceu em sua casa e procurou seu Chico a fim de ajustá-lo para trabalhar no seu comércio. E lá se foi o Zé ser caixeiro. Logo sabia o nome de todos os artigos vendido na venda, que era um empório onde se vendia de tudo o que o povo precisava: armarinhos, tecidos, remédios, botinas, sapatos para homens e mulheres, ferramentas, arame farpado, aresta, pregos, sal, açúcar, querosene, enfim, secos e molhados em geral e muitas outras bojunganas. Aprendeu a atender bem os fregueses e a ser prestativo com as pessoas, sem distinção e tratava bem todo mundo que entrava na venda, até os bêbados, que geralmente andavam com um “berro 38” na cintura e a guaiaca cheia de balas! Não demorou e o caixeiro passou a fazer também a contabilidade do comércio do patrão.
Já rapaz de dezoito anos, Zé sempre andava bem vestido, com uma caneta Parker 51, pena de ouro, na algibeira da camisa, cordão de ouro no pescoço, relógio suíço de 25 rubis no braço e sapato preto de bico fino, sempre brilhando. Nas horas de folga gostava de ler: lia tudo que achava de importante para seu enriquecimento cultural e que lhe desse conhecimento geral, jornal velho que vinha embrulhado com mercadorias e principalmente a Revista Cruzeiro, que seu João Cândido, morador do Córrego Baixa da Égua, comprava em Itajubá, digo Iporá, e lhe dava depois de tê-las lido. Também não deixava de ouvir o seu rádião de marca SEMP, a pilha, onde sintonizava os programas de “música caipira”, ao vivo, na Rádio Nacional de São Paulo, todas as noites, de segunda-feira a sábado, para escutar Tonico e Tinoco, Zilo e Zalo, Pena Branca e Xavantinho, Cascatinha e Inhana, Jacó e Jacozinho, Tião Carreiro e Pardinho e outras duplas sertanejas que faziam sucesso naqueles “anos dourados”. Encantava-se com a voz agradável e o estilo animado e brincalhão do apresentador Edgar Martins. Em casa ou na venda, nunca perdia o noticiário do Repórter Esso, O Globo no Ar e o Repórter RBC da Rádio Brasil Central, e o programa sertanejo vespertino desta emissora, Nossa Fazenda, apresentado por Morais César e o matutino, da Rádio Anhanguera, Quando Canta o Sabiá, de José Castro. Mas o que o Zé Bacana mais gostava de ouvir mesmo era A Voz do Brasil. Todos os dias, às 19 horas, religiosamente pregava o ouvido no rádio e escutava atenciosamente as notícias relacionadas aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Estava sempre bem informado sobre a realidade brasileira e internacional. Tanto que chorou na morte de Getúlio Vargas; sabia que Yuri Gagary foi o primeiro homem a fazer voo espacial ao redor da Terra e que disse que “a Terra é azul”; festejou a vitória de Juscelino Kubistchek na eleição para presidente do Brasil, em quem votou pela primeira vez na vida. Na região de Iporá, desde criança, era admirador de Israel de Amorim, Manda-Chuva do PSD, mesmo que seu patrão fosse fiel eleitor de Elias Rocha, da UDN. Aos domingos, seu passatempo predileto era ouvir os clássicos de futebol, principalmente quando o Santos Futebol Clube jogava, seu time do coração por causa do Pelé.
As moças da redondeza todas arrastavam as asas, ou melhor, requebravam as saias, para o Zé, mas sempre em vão, pois seu sonho era ir para a capital continuar os estudos e formar em medicina. A rapaziada, por outro lado, ardia de inveja e ciúme e por isso o apelidaram de Zé Bacana! Ele não estava nem aí, levava tudo na “esportiva”, sentia até lisonjeado e envaidecido com o apelido, procurava ser companheiro da turma e era até amigo de alguns.
Mas, o Zé tinha um ponto fraco: morria de medo de cachorro doido! Quando ainda era criança de apenas cinco anos de idade, passou por uma traumática experiência. Era 15 de agosto e sua família ia para uma reza numa fazenda não muito distante de onde morava. Na estrada, caminhava na frente com os primos, quando apareceu um cachorro doido furioso que avançou para seu lado tentando o atacar. Sua prima que era moça feita correu e o pegou nos braços protegendo-o do animal doente. Mas foi atacada e mordida por ele e, lamentavelmente, acabou morrendo. Isto deixou a família profundamente chocada e triste e o pequeno José traumatizado com o episódio do cachorro ocorrido no mês de agosto – “o mês do cachorro doido” – como diz a superstição popular.
Foi assim que, certo dia, Zé Bacana recebeu um convite para ir a um pagode lá para as bandas do córrego Lajeado, na fazenda do chará Zé da Dona. Era uma comemoração pelo sucesso da virada que os garimpeiros acabaram de fechar no rio Claro, no local chamado barra da Cachoeira Bonita, e que estava tendo muito sucesso na apuração do cascalho. Pedras de diamantes grandes e pequenas e de excelente qualidade pintavam, diariamente e os garimpeiros estavam esbanjando alegria e o dinheiro das bamburradas. Ajeitaram o ranchão de folhas de “baguaçu”, onde a piaõzada pegava o “rango” e convidaram os tocadores para animar a festa a noite inteira até o sol raiar: Catarino Baiano na sanfona, Floriano Leão e Tomé Mariano no violão, Antônio Galdino na viola, Zé Avião no cavaquinho e no pandeiro o animado João Rozendo. A notícia do pagodão correu rapidamente de boca em boca, mais que notícia ruim. E o Zé Bacana, que morava na Santa Marta, lá para as banda da barra do ribeirão Baliza, ficou todo assanhado quando ouviu falar da festa e viu o empenho da rapaziada que o convidara para lhes fazer companhia.
Como era sábado e todos já estavam de “alforria”, resolveram sair mais cedo, pois o local da festa era longe e iam a pé. Zé Bacana pediu um folga ao patrão naquele dia e, logo depois do almoço, foi ao paiol, descascou uma espiga de milho daquelas da palha bem maciinha, esfanicou-a com um garfo até ficar toda desfiada, emboluo-a e fez uma bucha caprichada, afinal, ia tomar um “banho de sábado!” Desceu lá para o córrego e deu aquela caprichada. No tempo de menino, banhava era com sabão preto de decoada, mas agora, que já tinha uns cobrezinhos de reserva, usava sabonete Vale-o-quanto-pesa. Fez a barba, aparou o bigode ajeitou-o até ficar fininho que nem sobrancelha de mulher e passou Leite de Colônia no rosto. Vestiu uma calça de linho branquinha, bem passada que chega estava de quina viva, uma camisa “volta-ao-mundo”, também branca, com listas verticais finas cinzas disfarçadas. Aliás, Zé gostava de andar de branco, pois sonhava ser médico. Deu uma esborrifada de “água de cheiro” Leite de Rosa no sovaco, passou brilhantina no cabelo até ficar lustroso e pregadinho na cabeça, deu uma repartida de lado no castanho, caprichou no topete em homenagem a Elvis Presley, conferiu o penteado no espelhinho de bolso, olhou no verso, pela milésima vez, a foto de Carmem Miranda, botou-o no bolso e pronto! Calçou as botinas “arranca-tocos” de sola rústica amarela e chiadeiras (para a caminhada até à festa). Colocou os sapatos pretos e engraxadinhos numa capanga, para não sujarem de poeira e calçá-los só quando chegassem ao local do pagode, e botaram o pé na estrada. Isto lá pelas três horas da tarde.
Caminharam mais ou menos uma hora pela estrada carreira ou cavaleira que cortava o cerradão através de um espigão de mais ou menos duas léguas e meia. Era mês de agosto e tempo das queimadas das roças, pastos e cerrados. O sol estava vermelho parecendo uma grande brasa redonda boiando no céu enfumaçado. Lá ia a rapaziada contando lorotas e fazendo algazarras, por aquela paisagem triste de cerrado todo queimado e tingido de cinza e carvão. Uma brisa baforosa formava aqui e ali redemoinhos que começavam rodopiando fininhos e iam engrossando até se transformarem em enormes trompas de gigantescos elefantes de vento que sugavam cinza, poeira e folhas secas lá para cima. Cada vez que uma vinha ziguezagueando para seu lado, Zé fazia o sinal da cruz, pois diziam que o “coisa ruim” costuma ficar dançando dentro do miolo do redemoinho! A cada passo que Zé Bacana dava, o chiado de sua botina ia denunciando o preço que tinha custado: “um-conto-e-quinhentos, um-conto-e-quinhentos…” contrastando com os intermináveis créc, créc, créc…, zuiiimmm., zuiiimmm, zuiiimmm…, dos deprimentes cantos das cigarras, enquanto nos capões de mato que se erguiam nas beiras das grotas secas, os beija-flores verde-azulados não paravam de repicar o monótono tico-tico, tico-tico, tico-tico… E para completar aquele cenário melancólico e, ao mesmo tempo, nostálgico, as seriemas empoleiradas nos galhos das árvores desfolhadas, entoavam tagarelas e sem parar sua tristonha cantiga cli, cli, cli, cli, cli…, aumentando ainda mais no coração o arrocho do sentimento de tristeza que inundava aquela abafada e deprimente tarde de “tempo de cachorro doido”!
De repente apontou na curva lá do fim da reta, um enorme cachorro vira-lata que vinha de pressa, andando meio de travesso na estrada, que nem carro com o chassi desalinhado, com a língua pendurada de um lado da boca como uma gravata curta e vermelha pendurada no pescoço! Antônio Ilia, o Tõe da dona Olímpia, sabendo do pavor que Zé Bacana tinha de cachorro doido, combinou com os outros companheiros de festança, de aprontar uma com o coitado. Fingindo estarem com medo, todos disparam em uma caótica correria, chamando por tudo quanto era santo e a gritar: cachorro doido, cachorro doido, cachorro doido! Alguns correram para trás, outros para o meio do cerrado, para um lado e outro da estrada, subindo nalgumas árvores, cautelosamente para não se sujarem. O pobre do Zé, em pânico, mais que depressa tratou de trepar no primeiro pau que surgiu na sua frente, uma grossa chapada – árvore das folhas grandes esbranquiçadas e redondas, de casca grossa, parecida com isopor e que após sapecada pelo fogo, fica toda coberta de carvão macio que tinge como um giz preto. Depois de várias tentativas frustradas, como alguém que sobe e escorrega em um pau-de-sebo, já em desespero e rogando pelas misericórdias do Senhor do Bom Fim, a angústia do Zé terminou. Ao alcançar, finalmente, uma galha, foi parar lá na grimpa da árvore carvoenta! Do alto, trêmulo, desolado e com a respiração ofegante como boi carreiro puxando carro cheio morro acima e boca seca como bico de papagaio, ficou observando o cachorro que já havia passado tranquilo e sumia pela estrada afora e que, na verdade, não tinha nada de doido, apenas vinha vindo na frente do seu dono, voltando cansado de uma caçada de tatu peba, já que tatu galinha só se encontrava lá para as matas! Enquanto isso, os companheiros riam do infeliz até doer a barriga. Pois o Zé Bacana que há pouco tempo estava branquinho parecendo uma garça, agora se confundia com um urubu pousado em cima da chapada! Estava tingido de carvão da cabeça aos pés. A roupa nem se fala, não clareou nunca mais, nem mesmo à custa de Qboa!
Pobre Zé Bacana! Como seus companheiros haviam tomado cuidado para não se sujarem, continuaram a viagem para a festa enquanto o Zé voltou para casa desconsolado e desolado por causa do susto sofrido e do seu estado lastimável que não lhe permitia ir ao pagode. O pior foi quando chegou à fazenda, onde morava: ao abrir a porteira do curral, o pessoal, ao sair à porta e janelas da sala, ficou assustado com aquele ser estranho e assombroso e ainda teve que ouvir as exclamações de espantado e esconjuro: “Minha nossa Senhora do Socorro! Que é aquilo? Cruz credo, Saci Pererê de duas pernas a essas horas! Ou é um toco de roça nova que resolveu dar uns voltas…?!” Quando viram que era o Zé Bacana e souberam do acontecido, todo mundo caiu na risada! E durante muito tempo, os que o conhecia, ao vê-lo, não passavam sem dar uma risada marota.
Mesmos anos depois, quando seus velhos amigos o procuravam em sua conceituada clinica cardiológica na capital, para fazer um checape, ao vê-lo vestido de branquinho, sentado atrás da mesa, não perdiam a oportunidade de caçoarem sobre aquela fatídica tarde de agosto! Ainda bem que o Zé Bacana, ou melhor, o Dr. José da Conceição, sabia levar tudo na brincadeira e ajudava a fazer galhofa da inesquecível trepada na chapada! Dr. José caía na risada e caçoava ironizando: “E num é que até hoje quando vejo um cachorro e penso que ele pode estar doido, meu coração bate acelerado”…!